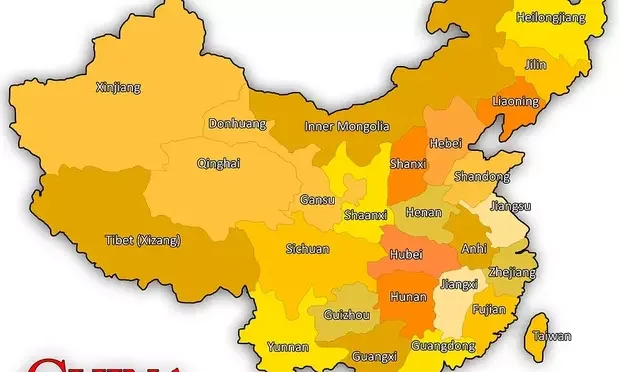Nos últimos dias, os meios de comunicação internacionais e nacionais deram destaque à nova cartografia da China, divulgada recentemente pelos órgãos competentes do país. A reação contrária ao novo traçado foi imediata nas nações ocidentais, nos vizinhos e entre aqueles que contestam os novos limites apresentados.
Na nova configuração, o território chinês salta de 9,5 milhões km2 para 10,5 milhões km2. Evidentemente, as críticas ao novo contorno se disseminaram globalmente. A maior parte da área acrescida ao território do país abrange as áreas costeiras do Mar Meridional chinês, que se estende pela plataforma continental geomorfológica (PCG) - a área que corresponde, simplificadamente, à borda de um continente que fica sob o oceano. A PCG concentra grandes riquezas naturais e é onde se encontram algumas das maiores reservas petrolíferas mundiais.
A famosa “linha dos nove traços”, estabelecida pela China unilateralmente, em 1947, percorrendo o litoral de Taiwan, Filipinas, Brunei, Indonésia, Malásia e Vietnã, foi estendida para a “linha dos 10 traços”, inserindo no novo traçado a Ilha de Formosa, local que se localiza Taiwan.
Tal decisão aumenta as tensões regionais, pois é uma área de disputa há décadas. Taiwan luta pelo seu reconhecimento internacional como nação independente, mas enfrenta a resistência chinesa nesse processo, que considera, historicamente, o arquipélago como uma “província rebelde” e não uma nação soberana.
Na mudança cartográfica divulgada recentemente, há também uma alteração na nomenclatura da área disputada: a Região de Taiwan (como os chineses se referiam ao arquipélago) passa a se chamar oficialmente Província de Taiwan, estremecendo ainda mais as relações mútuas.
Como essa nova cartografia chinesa, especialmente sobre o mar, espalha uma reação negativa no Ocidente e entre os vizinhos, vamos abordar, para alguns esclarecimentos, de forma resumida, a questão oceânica, sob a perspectiva das delimitações dos espaços costeiros e a importância que isso tem para as nações banhadas pelo mar, como o Brasil.
É importante frisar que, até a década de 1980, inexistia legislação sobre o direito ao mar. A massa líquida oceânica, dentro da doutrina defendida pelos britânicos, era de “mare liberum” (mar aberto). Mas, após 1945, com a mudança imposta pelos EUA sobre sua plataforma continental geomorfológica (PCG), tomou lugar a doutrina da “mare clausum” (mar fechado).
Historicamente, até tempos recentes, não havia uma preocupação com a delimitação dos espaços oceânicos. O ambiente marinho era considerado um bem-comum, de todos. Normalmente, essa condição pode ser muito problemática, uma vez que ninguém assume a responsabilidade por esse bem. Não se aplica um preço, porque não há quem possa dar um valor. A ideia de que pertence a todos retira o conceito de propriedade e de valor, o que leva muitas vezes ao abandono daquele recurso e da sua defesa.
Somente a partir da Segunda Guerra Mundial é que houve de fato uma preocupação sobre a delimitação. Antes, as águas territoriais costumeiras de posse de um país alcançavam até três milhas oceânicas. Essa extensão equivalia à capacidade de alcance dos canhões instalados em terra. Partia-se do princípio de que o direito à extensão sobre os oceanos iria até onde as balas de canhões conseguiam atingir. Entretanto, apesar de respeitados esses limites, não havia normas claras sobre essa prática.
Em setembro de 1945, pouco depois do findar a grande guerra, Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, audaciosamente, estendeu a jurisdição do país para a sua PCG e sobre os recursos do solo e subsolo dessa extensão da massa terrestre, contígua à costa.
De imediato à declaração dos EUA, seguiram-se novas reivindicações análogas de outros países, em especial da América Latina e do Oriente Médio. Essa iniciativa norte-americana impunha emergência no estabelecimento legal dos limites costeiros. Todavia, as primeiras tentativas não foram bem sucedidas.
Após a primeira Conferência Ambiental promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1972, em Estocolmo, quando foi realizado o primeiro alerta global sobre os impactos crescentes sobre o meio ambiente, incluindo os interesses crescentes sobre os limites litorâneos, a preocupação legal sobre o mar tornou-se crucial.
A ONU, na sequência, em 1973, se reuniu para tratar das discussões ambientais mais complexas, englobando a questão do direito sobre o mar. Os longos debates se estenderam até 1982. Naquele ano, na Jamaica, foi aprovada a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS, na sigla em inglês), conhecida como a Convenção de Montego Bay (nome da cidade jamaicana onde foi assinada).
O novo documento definiu os limites oceânicos que deveriam ser adotados, a partir de 1994, quando o documento entrou em vigor. O Brasil ratificou esse documento em dezembro de 1988.
O texto estabeleceu a criação da Zonas Econômicas Exclusivas (ZEEs), definidas como uma faixa limitada de 200 milhas oceânicas, aproximadamente 370,4 km, a partir da linha de base do mar. Se o litoral mais próximo estiver a menos de 200 milhas, a fronteira é, em princípio, traçada a meio caminho entre as linhas de base dos dois países costeiros.
Por meio dessa convenção, ficou garantido o direito de exploração dentro das ZEEs, além, por exemplo, do direito de construir ilhas artificiais. Nas ZEEs, prevalece o direito de exploração sobre recursos naturais encontrados, tanto minerais quanto pesqueiros, a realização de pesquisas e o estabelecimento das normas legais de preservação das espécies vivas, entre outras medidas.
Essas normas legais configuram a Plataforma Continental Jurídica (PCJ) do Estado costeiro e englobam as feições geográficas conhecidas como plataforma continental, talude continental, elevação continental e, em algumas circunstâncias, inclusive regiões da planície abissal.
Montego Bay estabeleceu também a área de soberania plena dos países para a região marítima de 12 milhas, o Mar Territorial (MT), equivalente a 22,2 km, a partir da linha de base oceânica. Sobre essas águas se estendem os direitos constitucionais e o controle absoluto sobre o solo, o subsolo e o espaço aéreo nacional dessa massa líquida. Fora dos limites do MT, o espaço aéreo é internacional, fora da jurisdição do Estado costeiro, salvo em casos especiais.
Na faixa compreendida com MT, é permitido o tráfego de embarcações, tratadas como “passagem inocente” rápidas, contínuas e sem paradas (casos necessários extremos, somente com a permissão do governo é que podem atracar).
O que a constituição proibir em terra prevalece no mar. Assim, como no Brasil os cassinos são proibidos, um cruzeiro que ofereça esse tipo de jogatina não trafega nos limites das 12 milhas. Outra determinação recai sobre os submarinos e submersíveis estrangeiros, que devem navegar pela superfície dentro desses limites.
A partir das águas territoriais, foram estabelecidas mais 12 milhas (44,4 km), correspondentes à Zona Contígua. Essa faixa funciona como uma zona tampão, como um limite preventivo, para casos de segurança e de fiscalização ao MT, de qualquer situação que possa gerar algum tipo instabilidade ao território de uma nação.
Finalmente, a convenção faz do alto mar um patrimônio comum da humanidade. Teoricamente, o alto mar não pertence a ninguém, porque ninguém tem o direito de se apropriar do que poderia facilmente ser propriedade do outro. Todavia, na prática é bem mais complicado, o que obrigou a ONU a elaborar um tratado de proteção em alto mar, em março passado (como não é o objeto de interesse, nesse momento, não iremos prolongar o tema).
A UNCLOS garante aos Estados a possibilidade de solicitar a extensão dos seus direitos de exploração para além da sua ZEE. Isso ocorre quando se consegue comprovar a continuidade geológica da plataforma continental para fora das 200 milhas. Há, atualmente, um grande número de países envolvidos nesse procedimento, muitas vezes um processo longo, com duração, em média, superior a 10 anos.
O Brasil foi o segundo desses países. O primeiro foi a Rússia, em 2001. Os brasileiros entraram com o pedido de estender Plataforma Continental Jurídica, em 2004. Com novos ajustes recomendados pela comissão de análise do pedido, ao longo do tempo, o projeto de alargamento da PCJ se estendeu para 350 milhas náuticas quando foi reapresentado à ONU, em 2015.
Uma vez aprovado, o território marítimo brasileiro saltaria de 3,5 milhões de km2 para mais de 4,5 milhões de km2 (superior a 50% da área continental do país).
A proposta engloba a Elevação do Rio Grande (ERG), um planalto submerso, com profundidade de 600 a 4000 metros, que se encontra, aproximadamente, entre 1300 a 1500 km do litoral do Rio Grande do Sul. Essa área, segundo os geólogos, seria um fragmento de continente da antiga Gondwana (porção meridional da ruptura da Pangeia), que afundou há, estimados, 40 milhões de anos e é extremamente rica em recursos minerais, inclusive as cobiçadas terras raras, chamado de “pré-sal da mineração” brasileira.
A ONU deu um parecer favorável para a extensão parcial desse território no final de 2019. O acréscimo das 350 milhas náuticas à jurisdição brasileira compõe a famosa “Amazônia Azul”, a área costeira riquíssima em recursos vivos e não vivos, superior à área da Amazônia Verde, que estariam sob a responsabilidade da União e estratégicos para a economia do país.
Enquanto isso, nas controvérsias internacionais, como sempre os interesses econômicos embasam muitas das estratégias geopolíticas adotadas. Os EUA, que não ratificaram a UNCLOS, ironicamente, exigem que ela seja respeitada pela China. A China, um país signatário da convenção, é contestado pelas nações vizinhas por infringir direitos legais amparados por esse documento.
É uma queda-de-braço contínua, com a vitória do mais forte sempre, mas nesses imbróglios quase nunca há inocentes. É um constante jogo de quem leva mais vantagens, numa “lei de Gérson” global. Agora é aguardar os desfechos que estão por vir.