
Manuel Duarte, escritor de 66 anos, está há três em atraso com a entrega do original de seu novo romance. Endividado, sofrendo de prostatite aguda e ameaçado de despejo, ele tem um filho pré-adolescente e duas ex-mulheres.
A tradutora Maria Clara é mãe do filho de Duarte e dona do cachorro Faulkner. Mulher de esquerda, confessa ao ex: “Sinto falta de um amigo com quem partilhar meu inconformismo em relação ao que estão fazendo com nosso país. Será que ainda teremos nossa correspondência violada? Será que ainda incendiarão nossos livros?”.
Quando se reaproxima da tradutora, Duarte percebe que ela “deu para comprar drogas sem receita em farmácias clandestinas” e passou a consumir grandes quantidades de “ansiolíticos, soníferos e antidepressivos”. Adquiriu também um revólver.
Duarte e Maria Clara ficaram casados por 13 anos e estão separados há três, tempo em que o escritor viveu com a decoradora Rosane, que o trocou por Napoleão Mamede, “um velho que fez fortuna com soja na Amazônia”. Com a mulher de quem recém se separou, Duarte mantém um contato ora hostil ora voluptuoso.
A decoradora confessa: “Eu, Rosane, que sempre fui uma tonta, passei a me interessar por discussões acerca dos rumos do país”. Isso se deu a partir da convivência com Napoleão e seu círculo de amigos. E foi quando Rosane instalou na sala de seu apartamento uma escultura dourada cujo torso ela vestiu com “uma faixa verde-amarela” e à qual passou a se referir como “meu presidente”. Estamos em setembro de 2018.
Entre os amigos de Napoleão Mamede está Fúlvio Castello Branco, ex-colega de Duarte no Colégio Santo Inácio, hoje no comando de uma “banca de advocacia que tem clientes poderosos”, casado com uma mulher “que é podre de rica e implica com gente rica” e que reage à mendicância espancando os pedintes. Um de seus clientes é Mamede, cujo filho certa vez teve a ideia de aterrissar no Santos Dumont “com 80 quilos de cocaína no jatinho do pai”. Fúlvio conseguiu abafar o escândalo.
Alvo de chacota em sua época de colégio “por ser o único com pau invertido na classe” – guardava-o “do lado direito da calça” –, o escritor se espanta ao saber que o filho sofre bullying dos colegas não por uma especificidade anatômica, mas pelo posicionamento político de seus pais.
Duarte confessa: “Se meu filho quiser, posso comparecer à próxima reunião de pais e professores com uma camisa da Seleção Brasileira. O menino, no entanto, tenciona se transferir para uma escola pública na favela, onde ninguém o recriminará por ter genes de comunista”.
Essa gente povoa o novo romance de Chico Buarque, que chega às livrarias na próxima quinta-feira (14). Com uma história que transcorre entre 2018 e 2019, o livro é impregnado da atmosfera do país nesse período. Mas o cerne de Essa gente não são as particularidades de uma experiência coletiva num momento tenso da vida brasileira.
PALAVRA
Com um livro dentro do livro – aquele que Duarte escreve, erraticamente – e uma multiplicidade de narradores a quem é entregue a primeira pessoa – em cartas, conversas telefônicas, queixas e cobranças formais –, este sexto título de Chico Buarque (Estorvo, Budapeste, Benjamim, Leite derramado, O irmão alemão) parece definir a imaginação e a palavra como “países de primeira necessidade”, tal qual “arte e céu” o eram para Guimarães Rosa. E se dedica a mostrar que tanto a imaginação quanto a palavra são terrenos movediços, ambíguos, inexatos e maleáveis.
“Em noites de abandono vou às putas, que pago em dobro para transar sem camisinha, quando não pago o triplo para não transar e fazê-las ouvir literatura”, diz o narrador.
Duarte sabe que sua imaginação supera qualquer realidade. Isso vale para noites insones e para as mulheres que amou “muito, mas não completamente”. Ele deixou o casamento com Maria Clara para embarcar numa aventura com Rosane. “Se eu pudesse, eu teria possuído a Rosane no primeiro relance, no instante em que a vi sair das águas. Ainda assim, a Rosane que eu então possuísse não se igualaria àquela que, ao mesmo tempo, eu imaginaria possuir”, escreve.
Com a paixão por Rosane arrefecida, o escritor inventa outra musa, a jovem holandesa Rebeka, uma ruiva casada com o salva-vidas que evitou o afogamento de Duarte. Ao descobrir o papel de Rebeka na vida do escritor, Rosane “arrebentaria todas as portas do apartamento, se soubesse que foi preterida por uma mulher mais nova”, ele imagina. “Seria difícil lhe explicar que com uma garota dessas não busco o prazer, mas a ilusão da minha própria juventude por alguns minutos recuperada.”
Para Agenor, seu marido, ou para Duarte, seu amante imaginário, Rebeka cantarola sempre a mesma música – Manhã de carnaval, de Luiz Bonfá e Antônio Maria, a canção que imagina uma “tão bonita manhã/ na vida, uma nova canção”.
Ouça Manhã de carnaval com João Gilberto:
No embate com as palavras, Duarte, que tem o hábito de caminhar para descomprimir os pensamentos, supõe que o resultado seria diferente, caso conduzisse a batalha em outros termos. “Com certeza minha literatura seria outra se, em vez de gastar sola de sapato por caminhos já trilhados, eu permanecesse imóvel feito o boneco da Rosane. (…) Seria quase como se, ao invés de impor minha escrita ao papel, eu visse o papel deslizar sob a ponta da minha caneta. Hoje, por exemplo, eu poderia sem esforço esboçar um conto pelo prisma de um general janeleiro.” E esboça.
A inversão de pontos de vista também se insinua quando Duarte passa a frequentar o novo círculo social de Rosane e, num erro nem tão aleatório, é identificado como Duterte numa coluna de jornal.
ARQUITETURA
O escritor Amos Oz (1939-2018) dizia que “escrever um romance é como construir Paris com palitos de fósforos”. Essa gente descortina o esforço dessa arquitetura sobretudo no seu trecho final, quando Rebeka se dispõe a traduzir para o inglês o livro de Duarte, do qual ela é musa inspiradora, enquanto a obra está sendo escrita. Temos, então, a justaposição dos encontros de Duarte e Rebeka no apartamento do escritor e na tela de seu computador, narrados no prometido e atrasado livro inédito.

Na profusão de tipos que surgem como cuidadoras de Maria Clara em seu período de internação domiciliar, destaca-se a crente “que roda pela casa cantando salmos ou declamando os provérbios”. Quando tem direito à palavra, a crente diz só achar “ruim ela (a patroa) falar que a diária escorchante que me paga não é pelos serviços de uma pastora” e afirma que “não é por ser mestra e doutora que ela tem o direito de mangar da minha ignorância”.
Recuando no tempo, Duarte cita que o pai, desembargador, se recusava a usufruir de regalias permitidas, mas não aceitáveis, segundo sua perspectiva, como se deslocar em carro com motorista até o tribunal. “Tratava-se definitivamente de um chato, no parecer de colegas menos rigorosos. Era como se, ao posar de vestal do templo, meu pai tacitamente os acusasse de prevaricar, auferir propinas, vender sentenças ou delitos do gênero.”
IMPRENSA
Os desvios de função da imprensa também são citados – “É corriqueiro que notícias na imprensa originem relatos ficcionais, mas o vice-versa não fica muito atrás” –, assim como o respaldo popular à violência. “Aos passantes com quem cruzo de volta para casa, ergo brindes com o copo de uísque na mesma mão direita que outro dia empunhou um revólver. O copo de uísque parece provocar indignação.”
É o racismo, contudo, a mazela mais ressaltada no livro. Há, por exemplo, a descrição da exploração – sexual e profissional – de meninos negros da favela por um conluio entre um maestro pedófilo e um pastor e dono de uma clínica de aborto clandestina. Outra passagem narra o assassinato brutal de um “mulato” acusado de tentativa de roubo, após sua rendição à polícia – “Depois que se aquieta, os meganhas continuam baleando o cara, na barriga, no peito, no pescoço, na cabeça, eles o matam muitas vezes, como se mata uma barata a chineladas”.
Apontando e reconhecendo a intromissão do racismo na linguagem, Essa gente promove um diálogo entre Agenor, apresentado como “um negro bonito de presumíveis 40 anos”, e Duarte, no qual o primeiro, referindo-se à obra que o segundo prepara, pergunta: “Você no livro é branco ou preto?”, o que inspira em Duarte uma reflexão: “Percebo que nos romances nunca me preocupei em explicitar a minha cor. É curioso que, num país onde quase todo munto é preto ou mestiço, autor nenhum escreveria 'hoje encontrei um branco...', ou 'um branco me cumprimentou...', ou 'o sargento Agenor é um branco bonito de presumíveis 40 anos'”.
Essa gente nos conta apenas que Duarte tem cabelos encaracolados, é bem menos negro do que Rebeka gostaria e apontado (uma vez) como mulato, o que serve de pretexto para que alguém resuma sua trajetória com uma ofensa racista.
Fiel ao potencial de ambiguidade (da imaginação e da palavra), o desfecho do livro apresenta um fato concreto e irrefutável sobre a história de Duarte, para o qual o leitor, olhando em retrospectiva tudo o que aprendeu sobre o protagonista de Essa gente, jamais terá uma explicação definitiva, a menos que a imagine.
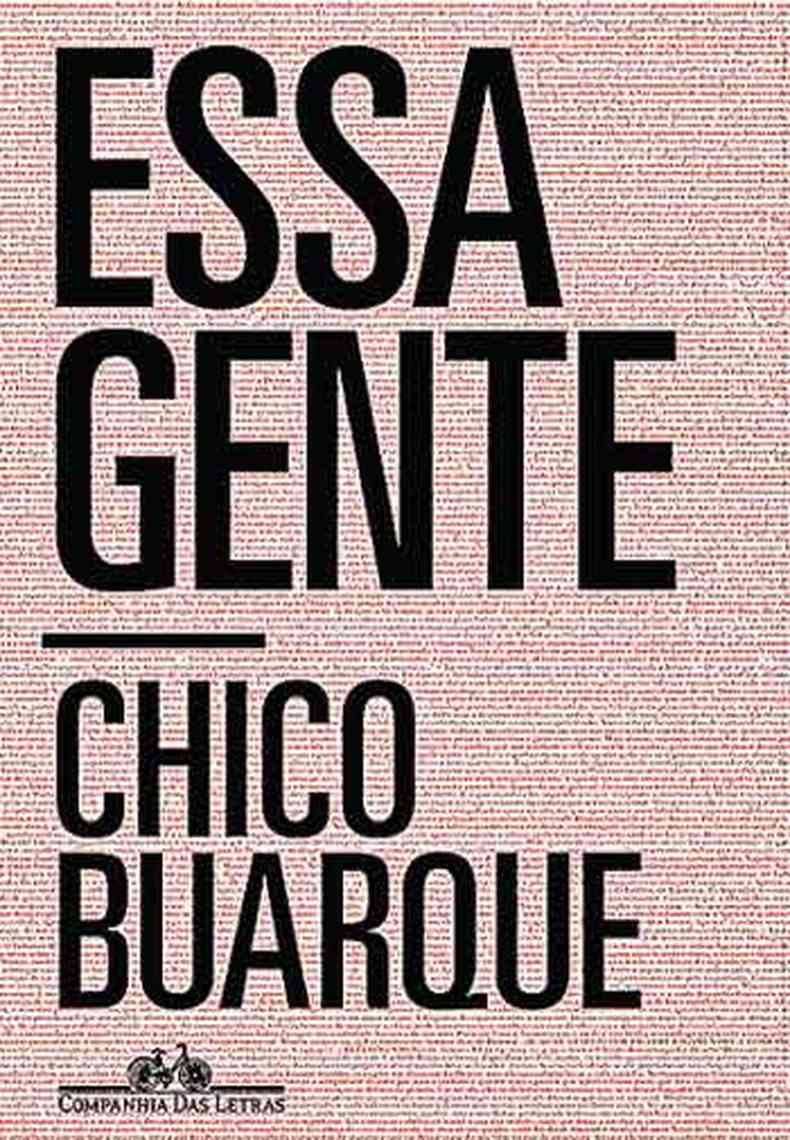
Essa gente
. Chico Buarque
. Companhia das Letras (200 págs.)
. R$ 49,90
