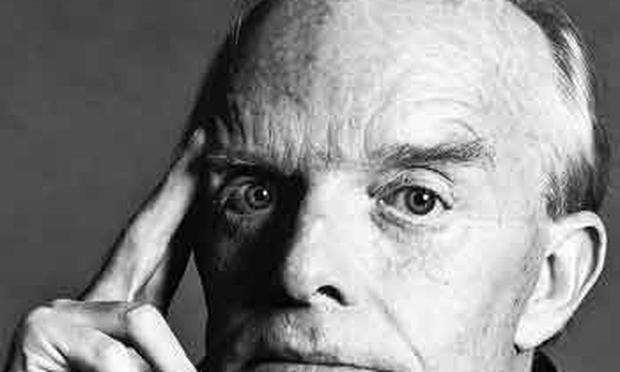A literatura policial sempre fascinou leitores por sua narrativa arquitetada com categorias muito claras: personagem, investigação, demanda e conclusão. Na verdade, a escrita de suspense também se aproxima da psicanálise no sentido de que há sempre, em ambas, uma verdade encoberta a ser desvendada. Não à toa, o escritor italiano Leonardo Sciascia usava o suspense como veículo para falar sobre questões de identidade.

Leia Mais
Perda do melhor amigo inspira nova trama de best-seller de suspense suíço'The Nevers' é suspense sobre mulheres com estranhos poderesPandemia em BH inspira o romance de estreia de mineira Clarisse ScofieldCriança de 7 anos cria 'geladeira cultural' e fomenta a leitura no CearáNY e São Paulo são personagens da literatura fantástica de N.K. Jemisin'Dra' Sandra Oh troca a medicina pela literatura em 'The chair'"O verão tardio", de Luiz Ruffato, é indicado pelo The New York TimesConfira nove séries apavorantes que retratam crimes brutaisMachado de Assis entendeu como poucos a loucura brasileiramodelo Nada melhor que uma forma literária que permite ao leitor entrar nos aspectos mais obscuros da realidade, além do modelo narrativo aberto, que não se limita a narrar um assunto, mas permite ir além, à sociedade. Foi com esse olhar que Truman Capote escreveu a série de artigos publicados na New Yorker em 1965, que constituiriam a gênese de um livro clássico, “A sangue-frio”.
O relato dos fatos que cercavam o assassinato de um fazendeiro e sua família em uma pequena cidade do Kansas, em 1959, entrou para a história das relações entre jornalismo e literatura. Capote criou um texto apurado e definitivo sobre como um momento traumático pode marcar profundamente uma sociedade considerada provinciana. Lançou também um conjunto de regras básicas, que seria avidamente utilizado pelos seguidores do jornalismo literário no mundo inteiro.
As histórias de “Os piores crimes...” oferecem uma viagem literária por meio de uma indagação, da busca da verdade que justifique a própria escrita literária. Duas narrativas são conhecidas do brasileiro graças às versões cinematográficas que seus personagens inspiraram: o franco-atirador Chris Kyle, interpretado por Bradley Cooper no controvertido “Sniper americano”, filme de Clint Eastwood, e o massacre dos estudantes de Columbine, retratado por Gus van Sant em “Elefante”.
Chris Kyle foi o mais bem-sucedido franco-atirador da história militar dos EUA, responsável por 160 mortes na Guerra do Iraque. Se tal cifra já não lhe inspirasse um duvidoso orgulho, ele ainda alimentou a controvérsia ao chamar os muçulmanos de “selvagens” nas páginas de seu livro de memórias.
Considerado herói por muitos, Kyle, que sobreviveu a quatro perigosas idas ao Iraque, foi ironicamente assassinado em 2003, no Texas, por Routh, um perturbado veterano de guerra, a quem tentava ajudar.
A trajetória de Kyle, marcada por glórias e o fim trágico, é narrada com precisão por Nicholas Schmidle em um dos maiores artigos reproduzidos no livro. O que se destaca é a objetividade do autor em preferir gastar uma ou duas linhas para descrever um crime, enquanto os motivos que levaram a pessoa a tal prática ocupam parágrafos e mais parágrafos.
Também complexo é o artigo assinado por Malcolm Gladwell, “Os limiares da violência”, que busca explicações sobre a popularização de atentados em escolas americanas. O início do texto já é perturbador: certa noite, uma mulher lavava louça quando notou um rapaz em seu quintal. Ele usava capuz e não evitava as poças d’água enquanto caminhava até um depósito de aluguel.
A mulher ligou para a polícia, que, lá chegando, encontrou John LaDue, de 17 anos, rodeado por artefatos com que produziria coquetéis molotov, mas uma variante mais mortal do que a tradicional, usando óleo de motor e alcatrão em vez de gasolina.
No quarto do rapaz, foi encontrado armamento pesado, com que ele pretendia assassinar o maior número possível de alunos da sua escola.
Detalhe: a chacina começaria com sua família, para que conseguisse a maior quantidade possível de mortos.
BRANCOS “Tiroteios em escolas são um fenômeno moderno e envolvem principalmente jovens brancos”, escreve Malcom Gladwell. “E, não surpreendentemente, dada a disponibilidade imediata de armas nos Estados Unidos, o fenômeno é predominantemente americano.” Além disso, afirma, o difícil é enquadrar os atiradores em qualquer tipo de padrão.
Afinal, se Evan Ramsey, que fuzilou duas pessoas em sua escola em Bethel, no Alasca, tinha vida caótica (mãe alcoólatra, ele foi abusado física e sexualmente), Kip Kinkel, que atirou nos pais, matou dois colegas e feriu 25 pessoas em sua escola, em Springfield, no Oregon, tinha família amorosa: era filho de professores tão queridos que 1,7 mil pessoas compareceram ao funeral deles.
“Os massacres agora envolvem meninos que antes se contentavam em brincar com kits de química no porão”, observa Gladwell. “O problema não é a reserva infinita de rapazes profundamente perturbados dispostos a pensar em atos horríveis. É pior. É que os rapazes não precisam mais ser profundamente perturbados para contemplar atos horríveis.”
O mistério da memória falsa
Os mistérios da mente inspiram outro artigo fascinante, “Lembranças de um crime”, assinado por Rachel Aviv na New Yorker. Uma aposentada foi assassinada em 1989, em seu apartamento, no Nebraska. Logo, seis pessoas confessaram participação no crime, descrito com detalhes por todas. Condenadas, foram presas, mas a evolução tecnológica trouxe evidências genéticas que, 19 anos depois, inocentavam todas as seis. Mesmo assim, elas se lembravam do crime de maneira muito vívida.
“Em nenhum outro caso nos Estados Unidos memórias falsas de culpa perduraram por tanto tempo”, observa Rachel Aviv. “A situação é um caso de estudo sobre a maleabilidade da memória; uma noção implausível, a princípio recebida com dúvidas, cresce até se tornar uma crença firmemente enraizada que rearranja a autobiografia e o senso de identidade de uma pessoa.”
Eli Chesen, psiquiatra do Nebraska que avaliou todos os réus após sua soltura, declarou à jornalista: “Eles ainda acreditam, em níveis diferentes, ter sangue nas mãos”.
Memórias fictícias não afligem apenas aqueles que foram traumatizados – segundo especialistas consultados por Rachel Aviv, pessoas que tiveram vidas estáveis também têm problemas para distinguir entre suas próprias experiências reais daquelas absorvidas por meio das histórias de alguma pessoa.
“Estudos demonstram que pessoas acabam acreditando que estiveram em um acidente durante um casamento de familiares, foram atacadas por um animal, ou até beberam chá das cinco com o príncipe Charles se familiares lhe disserem que viram acontecer” observa a jornalista.
Aviv revela um dado aterrador: estudo de 2015, publicado na revista Psychological Science, descobriu que 70% das pessoas, quando submetidas a interrogatórios altamente repetitivos e sugestivos, acabam acreditando que teriam cometido um crime.
“Nos últimos 30 anos, aproximadamente 100 homens e mulheres nos Estados Unidos confessaram crimes pelos quais foram depois absolvidos pela evidência genética”, informa a autora.
O outro lado da notícia
Geralmente, notícias publicadas em jornais e revistas têm vida curta, interessando ao público no momento em que são editadas. Algumas narrativas, porém, pela força de sua escrita e importância do assunto, ganham tal magnitude que acabam eternizadas em livro.
Exemplo clássico é “Hiroshima” (Companhia das Letras, disponível em e-book), célebre reportagem de John Hersey que traz o retrato em palavras de seis sobreviventes da bomba atômica em 1946, um ano depois da explosão naquela cidade japonesa.
A reportagem foi inicialmente publicada na revista The New Yorker, edição que estampava a data de 31 de agosto de 1946 na capa. Os exemplares estavam envolvidos por uma faixa branca, que informava algo inédito: das 68 páginas daquele número, havia apenas um assunto habitual, a programação cultural semanal de Nova York. O restante foi ocupado pelo impactante texto de Hersey.
OBITUÁRIOS Histórias de pessoas comuns, cujas vidas ganham outra dimensão quando descritas por profissionais competentes, também geram muito interesse. É o caso de “O livro das vidas” (Companhia das Letras), que reúne obituários publicados pelo jornal The New York Times.
Em vez de resenhar “mortos ilustres”, os textos se preocupam com pessoas que dificilmente ocupariam as páginas de um jornal. É o caso de Angelo Zuccotti, o responsável pelo cuidado da porta da El Marocco, famosa boate nova-iorquina, e que considerava sua atividade uma arte.
Entre os brasileiros, é válido lembrar o trabalho de Joel Silveira (1918-2007), lendário jornalista cujo olhar apurado (e, muitas vezes, crítico) rendeu descrições saborosas e até perversas, o que lhe garantiu o apelido de “Víbora”, conferido pelo empresário Assis Chateaubriand, que o contratou para escrever nos Diários Associados, empresa da qual o Estado de Minas faz parte.
De Silveira, a Companhia das Letras publicou “A feijoada que derrubou o governo”, conjunto de reportagens, artigos e crônicas que retratam de figuras políticas (como Juscelino Kubitschek, João Goulart e Jânio Quadros) a anônimos com trajetórias fascinantes, como o chefe de polícia de Getúlio Vargas, João Alberto Lins de Barros, que intimava amigos a comparecerem de madrugada à delegacia com o objetivo de formar uma roda de pôquer. (Estadão Conteúdo)
- “OS PIORES CRIMES DA
- REVISTA NEW YORKER”
- Organizado por Felipe Damorim
- Editora Rua do Sabão
- 262 págs
- R$ 59