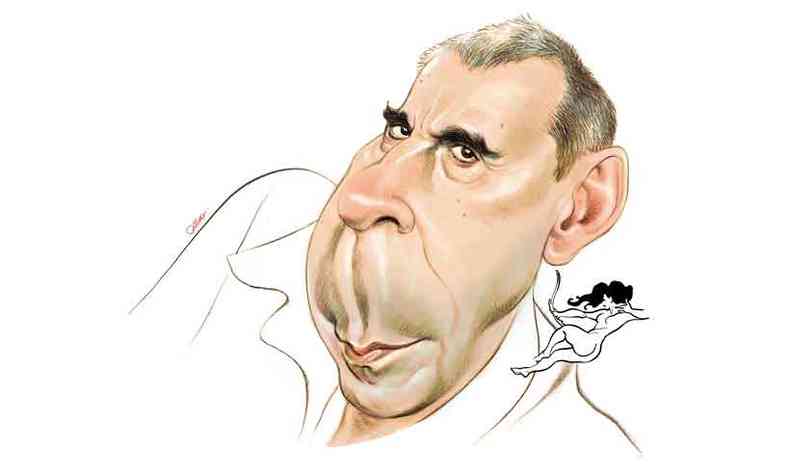
Pouca gente deve se lembrar da Livraria do Estudante. Ponto de encontro dos literatos belo-horizontinos no fim dos anos 1960, ela ficava numa galeria de um prédio na Rua Espírito Santo, esquina com Tupis. Foi ali, um pouco antes de completar 28 anos, que Sérgio Sant’Anna autografou O sobrevivente, seu primeiro livro, num setembro de meio século atrás. Escrevendo de maneira constante e obsessiva, em seu apartamento de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, onde mora desde 1977 – quando se mudou de Belo Horizonte, depois de ter vivido por aqui durante 18 anos –, o carioca Sérgio Andrade Sant’Anna e Silva acredita que o período de formação em BH foi mesmo decisivo para ter se jogado, plenamente, na literatura. Para ele, literatura nunca foi mera distração. Ou exercício de vaidade. “Se não tivesse mudado do Rio para Belo Horizonte, talvez não me tornasse escritor”, conta o autor nesta entrevista ao Pensar. E talvez só mesmo a chamada fé literária, que o grande Otto Lara Resende disse ter perdido ao longo da vida, possa explicar o empenho de Sérgio.
Durante meio século de muito trabalho, ele escreveu algumas das mais importantes obras dos anos 1970, 80 e 90. Livros como Notas de Manfredo Rangel, repórter (1973), Confissões de Ralfo (1975), O concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro (1982) e A tragédia brasileira (1984) são pontos de referência obrigatória da literatura brasileira. “Tenho fé na literatura. Ela é o meu ofício e procuro sempre renovar-me, mesmo agora, que vou fazer 78 anos” (o escritor completou 78 na última quarta-feira), conta. Na última década, ele voltaria a presentear os leitores com mais quatro joias: Páginas sem glória (2012), O Homem-Mulher (2014), O Conto Zero e outras histórias (2016) e Anjo noturno (2017). Enquanto prepara novo livro, que deve ser lançado no ano que vem, Amazona, novela publicada originalmente em 1986, acaba de ganhar nova edição. No delicioso folhetim, Sérgio traça um retrato da libertação da mulher brasileira nos anos 1970 e 1980. E toca, de maneira irônica e sem maniqueísmos, nas questões políticas do país daqueles anos. “É terrível constatar que, depois de muitos avanços nesse sentido, caminhando juntos com a democracia, de repente voltamos para trás assustadoramente e pelas vias ditas democráticas”, afirma.
Uma característica importante na sua trajetória é o interesse pela experimentação. Você está sempre atrás de nova linguagem. Ao escrever Amazona você se interessou pelo folhetim. Por quê?
O folhetim é um gênero que existe desde longa data. Mas eu escrever um era novidade e, portanto, uma experiência para mim. Era uma forma que possibilitava certas ideias ficcionais que eu tinha em mente. Fora isso, eu escrevia simultaneamente um romance com formas radicais e poéticas, A tragédia brasileira. Servia a dois senhores, ou melhor, a duas senhoras ou senhoritas (risos). Pois na Tragédia eu poetizava dramaticamente (embora não faltasse o humor) o país na menina Jacira que era barbarizada pela fúria industrial desordenada brasileira que nos massacra até hoje. Seu título não é em vão: A tragédia brasileira. Considero esse o meu melhor livro.
Gostaria de falar um pouco de Dionísia. Como sugere o escritor André Nigri no posfácio da nova edição, a personagem é uma espécie de neta de Capitu. Uma mulher de classe média que usa da sedução para subir na vida e se emancipar. Parte da sociedade brasileira acabou aceitando essa emancipação. Mas uma imensa parte continua machista, misógina e violenta. Como você enxerga hoje a personagem? E como imagina que as novas gerações vão ler o livro?
Acho que o que o André Nigri quis dizer, a partir de uma resenha de Silviano Santiago, de 1986, em que o crítico/escritor disse que Dionísia, a Amazona, atualizava certas mulheres míticas da literatura brasileira, como Gabriela e Rita Baiana, é que Dionísia, a Amazona, era figuradamente uma Capitu dos nossos tempos de emancipação da mulher. Foi uma boa sacada do Nigri. Mas não pensei na personagem de Machado ao escrever o romance, apenas me joguei nos conflitos entre os sexos brasileiros, numa época de emancipação feminina, como me parecia a década de 1980. Se fosse agora, certamente, deveria haver outros gêneros intermediários (LGBT), e as reações exacerbadas que eles têm provocado. O atual momento político e social é de confronto aberto, em que as forças da reação estão no poder. O meu romance, com todos os seus conflitos, abre caminho para uma utopia, enquanto agora se sofre na pele o que de mais retrógrado existe na sociedade brasileira. As Dionísias de agora têm mais chances de ser assassinadas do que de chegar ao poder. Mais cedo ou mais tarde novos autores se debruçarão sobre isso. E, sinceramente, prefiro escrever ficções sobre todas essas coisas do que discorrer sobre elas. Imagino que as novas gerações poderão ler com muito interesse o meu livro, talvez mais ainda as mulheres. Agora, ele é até meio revolucionário contra as forças reacionárias que dominam o país.
Amazona é marcado pela violência: sobretudo no episódio do assassinato do fotógrafo francês pelo Esquadrão da Morte a mando de um banqueiro. O país era então governado por José Sarney, depois de quase três décadas de ditadura. Vivíamos um momento em que as denúncias de violação aos direitos humanos vinham à tona. Embora o romance tenha episódios violentos, ele também possui uma energia otimista com a emancipação de Dionísia ao poder. Passados 30 anos, o índice de feminicídios continua alto. E os direitos humanos estão sob ameaça. Amazona foi um sonho que não se realizou?
Na década de 1980, a gente saíra havia pouco da violência política explícita, mas a violência social só fazia aumentar e vem aumentando e muito até hoje, três décadas depois. E, pior ainda, no atual governo não só a violência criminal é assustadora – uma das maiores do mundo – como os desrespeitos aos direitos humanos e sociais são tremendos. O próprio país vai sendo devastado, o desrespeito ao meio ambiente e às comunidades indígenas ultrapassa todos os limites. O Brasil virou um problema mundial, no pior sentido, como todo mundo sabe. Mas eu diria que em meus dois romances já há uma antecipação disso, não só no assassinato do personagem francês pela polícia, como pela guerra entre as classes, em Amazona. Há nele até uma seita anarquista, embora esta não se levasse a sério. De todo modo, é o anarquismo de um autor que não é passivo diante das iniquidades sociais. Esse autor, embora narre quase sempre na terceira pessoa, vê na ascensão feminina grande possibilidade de avanço social, político e existencial. E o fato é que eu mesmo vislumbrava isso; transformava aos poucos meu comportamento e ideias pela convivência com as mulheres. E acreditava mesmo numa transformação da nossa sociedade a partir da liderança delas. E é terrível constatar que, depois de muitos avanços nesse sentido, caminhando juntos com a democracia, de repente voltamos para trás assustadoramente e pela vias ditas democráticas. Dionísia não tomou o poder, pelo contrário. Mas continuo a reivindicar meu livro como uma luz para mim mesmo e para os leitores, que, pelo simples fato de ser leitores já formam uma elite mais civilizada. Mas não estou satisfeito com esse papo sério. Minha arma, enquanto autor, foi sobretudo o humor enquanto arma literária. E nada pior do que explicar o humor. Que leiam Amazona.
Duas matrizes parecem fornecer elementos para se entender a simultaneidade da escrita de Amazona e A tragédia brasileira: Machado de Assis e Nelson Rodrigues. O primeiro aproximando a lupa das classes média e alta da sociedade enquanto o segundo da camada mais baixa. Havia de sua parte a consciência de estar escrevendo o edifício social brasileiro em sua verticalidade? Nelson e Machado foram influências importantes para você?
É claro que não me propus a escrever um romance machadiano em Amazona. Mas tratando ironicamente, satiricamente ou até debochadamente a sociedade brasileira e carioca, não havia como não esbarrar em Machado aqui e ali. Mas nunca fui um devorador de Machado e li muito mais os seus contos de mestre do que seus romances. Já Nelson Rodrigues está presente nos primeiros capítulos de A tragédia brasileira. Depois sou eu inteiro no livro, em sua multiplicidade de formas. Mas devo dizer que andava muito com o diretor Antunes Filho, numa época em que ele encenava magistralmente três peças de Nelson aqui no Rio. Eu era fascinado pelo Antunes, ia ver ensaios seus e até namorei uma atriz do elenco que fazia uma das tias do “Serginho” (ora vejam só) em Álbum de família. E o apuro formal de Antunes, suas soluções cênicas fascinantes, deitaram raízes em meu imaginário. Mas reivindico A tragédia brasileira como coisa originalmente minha, uma metáfora poética do Brasil. Jacira é a adolescente virgem atropelada numa rua de Botafogo (minha rua de infância), por um motorista playboy, que, de um lado, é o devastador – coisa tão atual – e de outro é um apaixonado que destrói a sua criatura, por uma compulsão irrefreável, e ao mesmo tempo a ama perdidamente, persegue a sua pureza até os confins do Brasil, na Belém-Brasília, a Amazônia. E muitas coisas mais. Pois chego até mesmo a invocações religiosas e pagãs, invoco até o santo guerreiro Glauber Rocha, que passa vertiginosamente pelos dois romances.
Em setembro, você completou 50 anos de carreira. Em 1997, quando publicou Contos e novelas reunidos, não salvou todos os contos da primeira edição de O sobrevivente. Como você vê hoje o livro?
Tenho certa ternura pelo meu livro de estreia. Ele até consta (por último) do contrato que assinei com a Companhia das Letras para a reedição de toda a minha obra. Mas há nele certa ingenuidade de jovem iniciante.
Belo Horizonte aparece em sua obra: às vezes de maneira implícita, às vezes explícita. Mas é em Um romance de geração no qual você faz o maior “acerto de contas” com a cidade. Poderia contar um pouco daqueles anos em que escreveu o livro?
Foi em Belo Horizonte que comecei a escrever, fiz amizade com outros autores iniciantes, como Luiz Vilela, Luís Gonzaga Vieira, Humberto Werneck, Jaime Prado Gouvêa, Sebastião Nunes, sendo que este foi meu parceiro visual no livro Junk box. E publicávamos na nossa revista Estória e no Suplemento Literário do Minas Gerais, dirigido pelo Murilo Rubião. Se não tivesse mudado do Rio para Belo Horizonte talvez eu não me tornasse escritor, embora fosse um leitor desde a infância. Mas, em minha adolescência carioca, eu queria saber mais era de futebol de praia (que embasou meu Páginas sem glória), corridas de cavalos, ver partidas do Fluminense, jogar sinuca e turma de rua. No Colégio Andrews levei uma bomba monumental, zerei o gabarito. De fato, Um romance de geração marca meu retorno ao Rio e narra também minha experiência mineira, de que tenho saudades, principalmente dos muitos amigos que fiz em BH.
Você teve muitos amigos quando morou aqui. De pronto me ocorrem três nomes: Affonso Ávila, mentor e encorajador de sua literatura, tendo escrito a orelha da primeira edição de Junk Box; Sebastião Nunes, um parceiro na segunda edição desse mesmo livro. E Fernando Brant, que “financiou” por assim dizer a edição não comercial de O Circo. Qual o significado dessas pessoas em sua vida?
Affonso Ávila, grande poeta, era muito generoso e passava para nós, autores jovens, informações importantes sobre livros, autores, principalmente de vanguarda. Convidado para sua casa, pude conhecer Murilo Mendes e também a autora francesa do Nouveau Roman Nathalie Sarrault. De Fernando Brant tornei-me amigo quando retornei do Programa Internacional dos Escritores, em Iowa, EUA (1971). Letrista de música, fiquei amigo, através dele, dos compositores mineiros, que formavam, com Milton Nascimento, o Clube da Esquina. Senti e ainda sinto muito, acho que para sempre, a morte do Fernando.
Embora você não sacralize a arte, ao contrário de muitos escritores ao longo da vida, nunca perdeu o que o Otto Lara Resende chamava de “fé literária”. Otto mesmo não escondia de ninguém que tinha perdido a sua. Você, pelo contrário, mostra-se sempre aberto e generoso com escritores que surgem. Num país cuja literatura de qualidade tem tão pouco alcance como o nosso, o que ela significa socialmente para você?
O simples ato de fazer arte dentro de um país que se tornou obscurantista, com um governo de extrema-direita, já é uma forma de resistência. Sim, tenho fé na literatura, quer dizer, ela é o meu ofício e procuro sempre renovar-me, mesmo agora, que vou fazer 78 anos.
Você é um leitor entusiasta de ensaístas como Octávio Paz e Ricardo Piglia. Como Duchamp, a quem você declara uma das mais importantes personalidades artísticas a influenciá-lo, a literatura deve beber em todas as fontes?
Sim, bebo em todas as artes e minha literatura é impregnada das artes plásticas e do teatro. Adaptei duas peças em parceria com a grande diretora Bia Lessa, minha amiga querida. Também fui amigo do grande Antunes Filho, assistia às suas peças e ensaios e aprendi muita coisa com ele. Isso tudo está narrado em meu O concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro. E Marcel Duchamp é para mim um norte de invenção e liberdade. O livro de ensaios de Octávio Paz, Marcel Duchamp ou o castelo da pureza, releio sempre. Formas breves, de Ricardo Piglia, também é outro livro que me serve de guia e inspiração.
Você já me disse que, quando começou a escrever, lia Dalton Trevisan, mas não era o que mais gostava. E que a partir de um determinado momento, mudou de opinião. E começou então a ler Dalton com grande admiração e respeito. Você ainda considera Dalton um dos contistas mais importantes do mundo?
Talvez possa-se dizer que Dalton Trevisan é o maior contista do Brasil. Embora suas obras possam parecer enganosamente provincianas, por se passar sempre em Curitiba, ele é o escritor mais enxuto, minimalista que conheço. Suas inovações na prosa curta são de nível internacional, mas como escreve em português, não é lido em outros países. Mas atualmente não o releio e, já passado dos 90 anos, talvez ele não escreva mais.
Você já disse, mais de uma vez, que considera João Gilberto Noll o maior escritor de sua geração. Por quê?
Considero Noll, que aliás era meu amigo, o maior ficcionista contemporâneo do Brasil, embora já falecido. Não conheci autor nacional, fora Clarice Lispector, que tivesse uma linguagem tão própria, original, deslumbrante. Até me pergunto: como é que pôde?.
Em Breve história do espírito, de 1991, você de alguma maneira já antecipava o pesadelo que viria a se transformar o espaço público brasileiro, com as instituições sendo dominadas, cada vez mais, por grupos religiosos. Como você enxerga o futuro do país?
Sim, Breve história do espírito é uma obra que considero até demolidora das seitas evangélicas mercenárias. Mas nem nos meus piores pesadelos eu podia supor que essas seitas viessem a desfrutar do poder que detêm hoje. Está difícil a gente enxergar alguma luz no fim do túnel de breu em que atolou o país. Mas a gente tem de lutar com toda as forças para sair disso, não é mesmo? E temos o apoio de toda a sociedade internacional, o que nos dá um pouco de esperança.
*João Pombo Barile é jornalista e redator do Suplemento Literário do Minas Gerais
