Quem acompanha a trajetória de Humberto Werneck sabe da importância que a crônica sempre teve em sua vida. Verdadeira paixão que começou ainda na adolescência, quando estudava no Colégio Estadual Central de Belo Horizonte, Humberto acabaria se tornando um dos maiores conhecedores do assunto. Editor do imprescindível cronicabrasileira.org.br (site do IMS que reúne algumas das melhores, e deliciosas, crônicas brasileiras), seu trabalho ajuda a manter vivo aquilo que muitos consideram o mais brasileiro dos gêneros.
Mas não é do Humberto editor, agora imortal, que quero falar. Quero falar do cronista. Do criativo, e obcecado, escritor que vive refazendo seus textos. E que acaba de lançar a segunda edição de “O espalhador de passarinhos”. Primeiro livro de crônicas do autor, lançado originalmente em 2010, o volume foi totalmente reformulado. Ou “despiorado”, como gosta de dizer, meio brincando, o próprio Humberto. Sempre na busca daquilo que o escritor francês Gustave Flaubert chamou um dia de “le mot juste” (a palavra precisa).
Para falar um pouco sobre a nova edição do livro, Humberto conversou com o caderno Pensar. Na entrevista, ele relembrou os primeiros anos no jornalismo, como repórter do Suplemento Literário de Minas Gerais, da figura de Murilo Rubião, da biografia que está escrevendo sobre Drummond e, com ceticismo, sobre o futuro do país. “Confesso que não imaginava que pudéssemos regredir ao que aí está – mais que um Bolsonaro, um bolsonarismo que vai sobreviver a ele”. Uma conversa ainda mais oportuna depois de Humberto Werneck se tornar imortal: com os 33 votos que recebeu na última segunda-feira, ele passou a ocupar a cadeira de número 5 da Academia Mineira de Letras, vaga desde a morte da acadêmica Carmen Schneider Guimarães e que tem como patrono José Maria Teixeira de Azevedo Júnior.
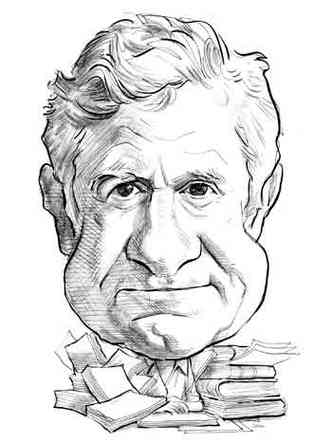
“O espalhador de passarinhos”, seu primeiro livro de crônicas, ganha agora uma segunda edição. Como surgiu a ideia de reeditar o livro?
Esse meu primeiro livro de crônicas saiu há mais de 10 anos, e, algum tempo depois, quando voltei a ele, me dei conta de que valia a pena um esforço para melhorá-lo. Para “despiorar”, como dizia o Otto Lara Resende. Algumas crônicas tinham se tornado anacrônicas, outras pediam para cair fora – e quase tudo precisava de uma lixa. Era preciso fazer isso que chamo de “soltar os cupins”, operação que aliás é assunto de uma das crônicas que acrescentei ao livro.
Imagine uma espécie de cupim benigno, quer dizer, cupim que comesse apenas a madeira ruim, preservando a boa. Foi o que tentei fazer. O leitor, se houver, me dirá se restou o que servir aos cupins. Sempre sobra. Por mais que estique a corda, mais adiante você vai perceber que não esticou o suficiente.
Imagine uma espécie de cupim benigno, quer dizer, cupim que comesse apenas a madeira ruim, preservando a boa. Foi o que tentei fazer. O leitor, se houver, me dirá se restou o que servir aos cupins. Sempre sobra. Por mais que estique a corda, mais adiante você vai perceber que não esticou o suficiente.
Você usou a palavra ‘despiorar’. Palavra de que o escritor Otto Lara gostava muito. Ele mesmo despiorou muito seus livros, que a cada edição passavam por ajustes. Murilo Rubião, que deixou apenas 33 contos, também costumava despiorar muito seus textos. Escrever bem é mesmo despiorar?
Tem escritores que escrevem e dão a coisa por escrita. Sorte deles – mas nem sempre do leitor... Otto e Murilo pertenciam a outro time, o time dos obsessivos no trabalho de botar no ponto um texto. Ajustar o foco, lixar interminavelmente. Se depois de muito lixar não restar madeira, é porque não valia a pena. É o caso, também, de Raduan Nassar, outro que nunca dá a coisa por concluída. Parou de escrever faz quase meio século, mas para cada nova edição segue tirando e botando vírgulas, trocando palavras, arredondando frases.
Quem lê esses artistas pode ter a impressão de que eles escreveram de primeira, como quem reproduzisse o texto de um teleprompter. Mas vá saber com que esforço foi conquistada aquela aparente naturalidade! Trata-se daquilo que o Hélio Pellegrino chamou de “a difícil arte de escrever fácil”. A tal coisa: se é para escrever, que se escreva direito! O leitor não merece menos.
Quem lê esses artistas pode ter a impressão de que eles escreveram de primeira, como quem reproduzisse o texto de um teleprompter. Mas vá saber com que esforço foi conquistada aquela aparente naturalidade! Trata-se daquilo que o Hélio Pellegrino chamou de “a difícil arte de escrever fácil”. A tal coisa: se é para escrever, que se escreva direito! O leitor não merece menos.
O Suplemento Literário de Minas Gerais foi fundamental para a sua decisão de se tornar jornalista. Você trabalhava na Copasa quando Murilo Rubião o chamou para trabalhar na redação. Pode lembrar essa história? E da importância de Rubião na sua vida?
Vivo repetindo que Murilo Rubião foi para mim um daqueles pouquíssimos encontros fundamentais que você tem na vida. Ele fez parte da comissão de um concurso que premiou um conto meu, e me mandou um exemplar de “Os dragões e outros contos”. Por essa altura ele criou o Suplemento Literário e me convidou para colaborar. Mais adiante, em maio de 1968, me levou para trabalhar com ele. Além de se tornar para mim um modelo – jamais alcançado – de pessoa e de escritor, Murilo foi tábua de salvação para quem levava um curso de direito sem a menor disposição para se tornar advogado. Graças a ele, botei um pé – botei os quatro, diria algum desafeto... – no jornalismo, e dois anos mais tarde, em maio de 1970, vim para São Paulo, catar emprego no revolucionário Jornal da Tarde. Não entrei, caí no jornalismo... Antes de ser um jornalista apaixonado, fui um jornalista acidental.
Gostaria de uma palavra dos seguintes amigos da geração SLMG: Jaime Prado Gouvêa, Sergio Sant’Anna e Luiz Vilela.
Na literatura, como em tudo o mais, é vital ter com quem bater bola, sobretudo nos anos de formação, e quanto a isso não posso me queixar. Tive e tenho ainda comparsas essenciais. Que privilégio ter convivido com Sérgio Sant’Anna e Luiz Vilela! Aos 14 anos, encontrei no basquete do Minas Tênis o Jaime Prado Gouvêa, cinco dias mais velho que eu, e desde então estamos encontrados. Fizemos lado a lado as grandes descobertas da juventude, literárias ou não. Tínhamos coisas em comum, a começar pela falta de talento para o basquete. Tenho admiração inoxidável pela fidelidade e pela tenacidade com que o Jaime se aplicou à literatura, sem um pingo da semostração que entre escritores parece obrigatória. Confesso ter inveja benigna de uma obra que, anunciada já no título do primeiro livro, “Areia tornando em pedra”, de 1970, veio a ter uma solidez de rocha.
Na última segunda-feira, você se tornou membro da Academia Mineira de Letras. Qual é a sensação de ser agora imortal?
Nunca tinha pensado em me candidatar a uma academia, até me dar conta de que a de Minas não apenas vem fazendo um ótimo trabalho como reúne uma quantidade de bons escritores que são amigos meus. Espero contribuir no esforço que fez da AML um organismo vivo, moderno e atuante.
Você trabalhou, por mais de três décadas, em redação de jornal. Do que sente falta? Ou não sente falta de nada?
Ao contrário do que disse o poeta Jorge Manrique, não creio que “qualquer tempo passado foi melhor”. Mas tenho saudade das muitas redações pelas quais passei em mais de três décadas. O que não significa que gostaria de voltar a elas, mesmo que um milagre me devolvesse o pique da juventude.
"O jornalismo não terá a menor importância se não nos trouxer informação interessante e de primeira mão - leia-se: reportagem"
Como vê o jornalismo feito hoje no país?
Sinto que o jornalismo – falo do jornalismo escrito, em especial – ainda não se ajustou às novas mídias, e não sei como se ajustará. Precisará descobrir ter razão de ser num mundo no qual a notícia chega instantaneamente em toda parte. De uma coisa estou certo: o jornalismo não terá a menor importância se não nos trouxer informação interessante e de primeira mão – leia-se: reportagem, essa atividade que parece ter desaparecido de muitas redações, aquelas em que hoje a apuração dos fatos se faz pela internet, a tal ponto que, por justiça, num dia desses, o Prêmio Esso de Reportagem deverá ser dado ao Google...
Informação interessante e em primeira mão – e mais: tratada de maneira sedutora, não para fazer bonitezas, mas para passar a informação a alguém esquivo, inconstante, no limite da inapetência. Nas muitas redações por onde passei, cheguei a achar que o leitor não o é... Ou seja, é preciso que também o texto seja de primeira, capaz de fisgar o leitor na primeira linha e conduzi-lo, docemente cativo, até o ponto final. Não tenho religião, mas tenho minha santa padroeira: a Sherazade, aquela moça que salvou o pescoço porque ao longo de 1001 noites conseguiu prender o sultão com a forma e o conteúdo sedutores de seus relatos.
Informação interessante e em primeira mão – e mais: tratada de maneira sedutora, não para fazer bonitezas, mas para passar a informação a alguém esquivo, inconstante, no limite da inapetência. Nas muitas redações por onde passei, cheguei a achar que o leitor não o é... Ou seja, é preciso que também o texto seja de primeira, capaz de fisgar o leitor na primeira linha e conduzi-lo, docemente cativo, até o ponto final. Não tenho religião, mas tenho minha santa padroeira: a Sherazade, aquela moça que salvou o pescoço porque ao longo de 1001 noites conseguiu prender o sultão com a forma e o conteúdo sedutores de seus relatos.
Em 2005, você publicou, em uma tiragem de apenas 500 exemplares e numa edição não comercial, seu único livro de ficção até hoje: “Pequenos fantasmas”, um livro de contos. Poderia falar um pouco da história desse livro?
Nos últimos tempos no Suplemento Literário, incentivado pelo Murilo Rubião, montei um livro de contos que ele quis publicar imediatamente ali na Imprensa Oficial. Me pediu reserva, que mantive por décadas, e furou a fila dos originais programados. Logo em seguida, mergulhei numa crise que, entre outros arrancos, me fez desistir da literatura e me mandar de Belo Horizonte. Peguei de volta os originais de “Primeiro movimento”. Com o tempo, me dei conta da bobagem orgulhosa que foi não desovar aqueles contos, até para me livrar do livro, que no armário foi se transformando em fantasma.
Perto de meus 60 anos, voltei a ele, suprimi dois contos e juntei um temporão, mudei o título para “Pequenos fantasmas” e fiz uma edição fora do comércio, para distribuir aos amigos. Mais adiante ainda, percebi que o orgulho juvenil não foi a causa principal da recueta: a verdadeira razão foi o temor, pouco nítido, mas fortíssimo, dos poderes reveladores da arte. Reveladores do mundo e de si mesmo. Como dizia o Fernando Sabino: ao contrário de um jornalista, que apura e escreve, um ficcionista escreve não porque saiba, mas para ficar sabendo.
Por mais que planeje e esquematize, na criação dele há sempre um tanto de imponderável voo cego. Como o camarada que saiu de Lisboa para comprar noz-moscada na Índia e descobriu um Brasil... E nem sempre a descoberta de “brasis” que há em nós é fácil de encarar. O Hélio Pellegrino gostava de citar um poeta espanhol, não sei se García Lorca: “¡Hasta tengo miedo de mi mismo!” .
Perto de meus 60 anos, voltei a ele, suprimi dois contos e juntei um temporão, mudei o título para “Pequenos fantasmas” e fiz uma edição fora do comércio, para distribuir aos amigos. Mais adiante ainda, percebi que o orgulho juvenil não foi a causa principal da recueta: a verdadeira razão foi o temor, pouco nítido, mas fortíssimo, dos poderes reveladores da arte. Reveladores do mundo e de si mesmo. Como dizia o Fernando Sabino: ao contrário de um jornalista, que apura e escreve, um ficcionista escreve não porque saiba, mas para ficar sabendo.
Por mais que planeje e esquematize, na criação dele há sempre um tanto de imponderável voo cego. Como o camarada que saiu de Lisboa para comprar noz-moscada na Índia e descobriu um Brasil... E nem sempre a descoberta de “brasis” que há em nós é fácil de encarar. O Hélio Pellegrino gostava de citar um poeta espanhol, não sei se García Lorca: “¡Hasta tengo miedo de mi mismo!” .
"Até um tempo atrás, eu achava que o Brasil, bem ou mal, avançava - como num xaxado: dois passos para a frente, um para trás. Hoje, só passos para trás. Confesso que não imaginava que pudéssemos regredir ao que aí está - mais que um Bolsonaro, um bolsonarismo que vai sobreviver a ele"
Você é hoje um dos mais talentosos cronistas brasileiros. Por que elegeu a crônica como seu gênero ficcional?
Era natural que viesse a ser cronista, pois me formei nos chamados “anos de ouro” da crônica brasileira – aqueles em que você, toda semana, encontrava Rubem Braga, Paulo Mendes Campos e Fernando Sabino na revista Manchete, Rachel de Queiroz na revista O Cruzeiro, e, nos jornais, Carlos Drummond de Andrade, Antônio Maria, Manuel Bandeira, Vinicius de Moraes, Carlinhos Oliveira, Carlos Heitor Cony, Nelson Rodrigues... Era um prazer enorme ler esses e outros cronistas, ainda mais numa época em que as antologias adotadas no colégio não iam além de velharias como Coelho Neto e Graça Aranha.
Houve uma revolução quando, em 1960, Rubem Braga e Fernando Sabino criaram a Editora do Autor para publicar coletâneas deles e de outros cronistas. Como tantos meninos e meninas, da minha geração e das seguintes, tomei gosto vitalício pelo gênero.
Houve uma revolução quando, em 1960, Rubem Braga e Fernando Sabino criaram a Editora do Autor para publicar coletâneas deles e de outros cronistas. Como tantos meninos e meninas, da minha geração e das seguintes, tomei gosto vitalício pelo gênero.
Você é também um dos maiores conhecedores da história da crônica: autor da antologia “Boa companhia” e edita o site do Portal da Crônica Brasileira, do IMS. Pode falar dos dois trabalhos?
Eu ainda não era cronista regular, semanal, quando, em 2005, a Companhia das Letras me convidou para organizar a antologia “Boa companhia: Crônicas”. Topei com entusiasmo. Formei, modéstia à parte, um time bem bacana, com 42 autores, de José de Alencar a Antonio Prata, sem ordem cronológica, e só não consegui emplacar mais quatro – João Ubaldo Ribeiro, Nelson Rodrigues, Carlos Heitor Cony e Stanislaw Ponte Preta – por problemas de direitos ou encrencas com herdeiros. Um sucesso, o “Boa companhia: Crônicas” teve dezenas de reimpressões.
E o Portal da Crônica Brasileira?
Mais recentemente – setembro de 2018 –, o Instituto Moreira Salles me propôs ser editor de um Portal da Crônica Brasileira, que estava sendo criado. Temos hoje um timaço de cronistas, todos eles falecidos. Se no começo eram seis, hoje são 13, entre eles Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, Clarice Lispector, Antônio Maria, João do Rio, Lima Barreto, Otto Lara Resende, Rachel de Queiroz e José Carlos Oliveira. A cada início e metade de mês escrevo ali, sob a rubrica Rés do Chão – o lugar por onde se entra num edifício –, um texto destinado a atrair o leitor para algumas das 3.100 crônicas do Portal. Muitas delas, aliás, inéditas em livro, podem ser lidas [cronicabrasileira.org.br] diretamente nos recortes de jornal ou revista, muitas vezes com o atrativo adicional de intervenções feitas à mão por seus autores.
"O desafio é contar a existência de um camarada que, na chatice de uma vida de burocrata, convencional até mesmo no amor vivido, e que, ainda assim, produziu uma grande obra, nada burocrática nem convencional"
Você é o autor de “O desatino da rapaziada”, uma obra que virou referência. Poderia lembrar a história desse livro?
“O desatino” nasceu de um convite que me fez o poeta Antonio Fernando de Franceschi, o primeiro diretor do Instituto Moreira Salles, falecido recentemente. Na época (1991), o IMS construía a sua primeira sede, em Poços de Caldas, e o Franceschi imaginou marcar a inauguração com o lançamento de um livro sobre escritores mineiros que foram também jornalistas. Ele tinha sido meu chefe na Redação da IstoÉ, e me propôs a tarefa. Ofereceu uma bolsa e bancou uma equipe para ajudar na pesquisa. O livro foi escrito em sete meses, o tempo que durou a bolsa. Uma loucura, pois na época eu era chefe de Redação da sucursal paulistana do Jornal do Brasil.
Na minha sala, na Avenida Paulista, eu era escritor das 7h às 9h30, quando o Superman virava Clark Kent... A Companhia das Letras gostou do projeto, associou-se ao IMS e lançou o livro em agosto de 1992. Por iniciativa do Franceschi, os originais tiveram três leitores de sonho: Antonio Candido, Francisco Iglésias e Otto Lara Resende, e todos eles deram pitacos preciosos. Guardo como tesouro a leitura do Otto, com anotações e comentários a lápis, da primeira à última página.
Na minha sala, na Avenida Paulista, eu era escritor das 7h às 9h30, quando o Superman virava Clark Kent... A Companhia das Letras gostou do projeto, associou-se ao IMS e lançou o livro em agosto de 1992. Por iniciativa do Franceschi, os originais tiveram três leitores de sonho: Antonio Candido, Francisco Iglésias e Otto Lara Resende, e todos eles deram pitacos preciosos. Guardo como tesouro a leitura do Otto, com anotações e comentários a lápis, da primeira à última página.
Você escreveu “O santo sujo”, biografia de Jayme Ovalle, um nome que ficou praticamente esquecido durante décadas. Por que escolheu esse personagem?
Eu era pouco mais que adolescente quando topei pela primeira vez com o nome de Ovalle na epígrafe de um conto de Ivan Angelo. Algo assim: “O suicídio é um ato de publicidade: a publicidade do desespero”. Comecei a garimpar mais coisas dele, e não achei mais nada, a não ser histórias contadas por Manuel Bandeira, Fernando Sabino e outros, ou referências em poemas de Vinicius de Moraes e Murilo Mendes. Mesmo a tal epígrafe não foi ele quem escreveu, é frase dita numa entrevista a Vinicius. Só bem mais tarde soube que Ovalle inspirou um dos personagens de “Encontro marcado”, de Sabino: o “velho Germano”, figura interessantíssima.
No começo dos anos 90, pedi uma bolsa à Fundação Vitae para pesquisar e escrever uma biografia, fiado na informação de que Ovalle não publicou em vida, mas deixou baús abarrotados de originais. Já tinha a bolsa quando descobri que não havia baú nenhum. E agora? Biografia de escritor que não escreveu? Felizmente, percebi que isso não invalidava o projeto – pelo contrário, ali estava algo tão fascinante quanto original: afinal, quantos escritores sem obra influenciariam autores graúdos como Bandeira, Vinicius e Sabino? Jayme Ovalle foi um sol cuja luz se estampou não em livros, mas na vida e na obra de outros.
No começo dos anos 90, pedi uma bolsa à Fundação Vitae para pesquisar e escrever uma biografia, fiado na informação de que Ovalle não publicou em vida, mas deixou baús abarrotados de originais. Já tinha a bolsa quando descobri que não havia baú nenhum. E agora? Biografia de escritor que não escreveu? Felizmente, percebi que isso não invalidava o projeto – pelo contrário, ali estava algo tão fascinante quanto original: afinal, quantos escritores sem obra influenciariam autores graúdos como Bandeira, Vinicius e Sabino? Jayme Ovalle foi um sol cuja luz se estampou não em livros, mas na vida e na obra de outros.
Você está escrevendo uma biografia de Drummond. Como anda o trabalho?
O trabalho vai avançando. Não vejo a hora em que vou desaguar no pós-Drummond. É uma tarefa bem diferente da minha experiência anterior como biógrafo. No caso de Ovalle, tratava-se de reconstituir a figura e a vida de alguém praticamente desconhecido. Drummond é o contrário, todo mundo sabe quem foi o poeta, ou acha que sabe. Um ano antes de sua morte, propus a ele uma série de entrevistas para um livro biográfico, e Drummond, claro, se recusou, alegando que não valia a pena contar uma vida a seu ver destituída de interesse. Vida de burocrata, argumentou, sem grandes acontecimentos. É verdade. O desafio é este: contar como foi a existência de um camarada que, na chatice de uma vida de burocrata, convencional até mesmo no amor vivido – Drummond, como tantos maridos de seu tempo, teve “matriz” e “filial” –, e que, ainda assim, produziu uma grande obra, nada burocrática nem convencional.
A enorme pesquisa que fiz trouxe algumas belas surpresas, e no final espero ter desenhado uma figura justa, nítida e verossímil, e desenrolado a contento a sua trajetória ao longo de 84 anos de vida. Estou animado e confiante, mas desde já vou avisando: nunca mais farei biografia, e não apenas pela idade a que cheguei. A experiência de biografar faz nascer no autor uma intimidade unilateral com alguém que você nunca viu – caso de Jayme Ovalle –, ou viu umas poucas vezes, caso de Drummond, com quem estive em quatro ou cinco ocasiões, sempre como jornalista. E de repente você está sabendo quanto o camarada calçava, ou se gostava de bife bem ou malpassado...
A enorme pesquisa que fiz trouxe algumas belas surpresas, e no final espero ter desenhado uma figura justa, nítida e verossímil, e desenrolado a contento a sua trajetória ao longo de 84 anos de vida. Estou animado e confiante, mas desde já vou avisando: nunca mais farei biografia, e não apenas pela idade a que cheguei. A experiência de biografar faz nascer no autor uma intimidade unilateral com alguém que você nunca viu – caso de Jayme Ovalle –, ou viu umas poucas vezes, caso de Drummond, com quem estive em quatro ou cinco ocasiões, sempre como jornalista. E de repente você está sabendo quanto o camarada calçava, ou se gostava de bife bem ou malpassado...
Como vê o país atualmente? É otimista com o futuro do Brasil?
Sou pessimista. Tinha 19 anos no golpe de 1964 e 23 no AI-5, e nesse meio tempo passei uma temporadinha numa cela do DOPS, metido que andei na política estudantil. Já em São Paulo, participei de lutas sindicais e da campanha das Diretas, em 1984, vi a ditadura esfarinhar-se no ano seguinte e voltar a esperança. Sem ter sido um crédulo, até um tempo atrás eu achava que o Brasil, bem ou mal, avançava – como num xaxado: dois passos para a frente, um para trás. Hoje, só passos para trás. Confesso que não imaginava que pudéssemos regredir ao que aí está – mais que um Bolsonaro, um bolsonarismo que vai sobreviver a ele. E isso bem perto de você, entre seus amigos e familiares, com todo o horror que sempre me inspiraram a intolerância à democracia, às coisas do espírito e à diversidade dos indivíduos. Nem Lula nem o PT foram santos, mas a demonização deles, no fundo marcada pelo ódio de classe, nos levou ao pântano em que estamos atolados.

Humberto Werneck
Arquipélago Editorial
176 páginas
R$ 45
