04/03/2022 04:00
-
atualizado 04/03/2022 00:30

Ausência de perspectiva, desamparo, desesperança. O Brasil dos últimos anos já podia ser vislumbrado em alguns dos filmes mais marcantes do cineasta Walter Salles. Mas, em “Terra estrangeira” e “Central do Brasil”, também apareciam possibilidades de enfrentamento da realidade a partir de encontros de pessoas bem diferentes – Alex (Fernanda Torres) e Paco (Fernando Souza Pinto), Dora (Fernanda Montenegro) e Josué (Vinicius de Oliveira).
Dirigido por Salles e Daniela Thomas, “Terra estrangeira” completou 25 anos em 2021 e voltou à tela grande em cópia restaurada, com a primeira exibição no Brasil na 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. “O filme nasce como uma reação ao silêncio forçado do desgoverno Collor, e de 25 anos de ditadura militar. É um filme regido pelo desejo urgente de refletir quem nós éramos naquele momento de nossas vidas, e de participar do renascimento da cinematografia brasileira”, lembrou Walter Salles, à época da exibição.
“Hoje, a desesperança se agravou. E tão grave quanto o exílio físico é a sensação de estarmos exilados dentro do nosso próprio país, que não mais reconhecemos”, afirma, em entrevista exclusiva ao Pensar, do Estado de Minas.
Urso de Ouro de melhor filme e Urso de Prata de melhor atriz no Festival de Berlim de 1998, “Central do Brasil” concorreu ao Oscar de melhor produção estrangeira e ainda é o filme mais popular de Walter Salles, visto por mais de 3 milhões de espectadores – no Brasil e no exterior. O filme subsequente do diretor, “Abril despedaçado”, completou 20 anos em 2021 e uma de suas temáticas – os conflitos violentos no interior do país – continua bem atual.
“A escalada de violência assume contornos cada dia mais bárbaros”, acredita o diretor. Ele revelou a motivação para o seu próximo projeto, “Ainda estou aqui”, adaptação do livro de Marcelo Rubens Paiva sobre a mãe do escritor, Eunice Paiva, uma das protagonistas da luta contra a ditadura militar, vítima das consequências do mal de Alzheimer em 2018. “É um relato ao mesmo tempo trágico e de uma grande beleza, que merece ser contado para nos lembrarmos de quem nós somos, pelo que passamos, de onde viemos”, acredita.
“A escalada de violência assume contornos cada dia mais bárbaros”, acredita o diretor. Ele revelou a motivação para o seu próximo projeto, “Ainda estou aqui”, adaptação do livro de Marcelo Rubens Paiva sobre a mãe do escritor, Eunice Paiva, uma das protagonistas da luta contra a ditadura militar, vítima das consequências do mal de Alzheimer em 2018. “É um relato ao mesmo tempo trágico e de uma grande beleza, que merece ser contado para nos lembrarmos de quem nós somos, pelo que passamos, de onde viemos”, acredita.
Na entrevista, Salles revelou que ainda estava impactado pela morte de Arnaldo Jabor, ocorrida em 15 de fevereiro: “Simbolicamente, é como se uma geração que imaginou um país independente, definido segundo seus próprios critérios estéticos e políticos, estivesse partindo sem ter tido tempo de passar o bastão, em um dos momentos mais delicados da nossa história”, diz o cineasta, admirador de “Toda nudez será castigada” e “Tudo bem”.
A desesperança no futuro do país move os personagens de “Terra estrangeira” a tentarem uma nova vida, fora do Brasil. Esse sentimento recrudesceu, permanece ou se intensificou?
O caos social e econômico dos anos Collor, retratado em “Terra estrangeira”, representou um ponto de inflexão na história do país. Oitocentas mil pessoas sem perspectiva de futuro, em grande parte jovens, partiram do Brasil. Como dizia Edward Said, o exílio pode ser tentador, mas é terrível de se experimentar. É o que Paco (Fernando Alves Pinto) e Alex (Fernanda Torres), personagens do filme, sentem na pele. Hoje, a desesperança se agravou. Aos milhares de brasileiros que tentam encontrar trabalho nos Estados Unidos atravessando a fronteira com o México, somam-se centenas de cientistas que, com a asfixia de suas profissões, são obrigados a partir. Tão grave quanto o exílio físico é a sensação de estarmos exilados dentro do nosso próprio país, que não mais reconhecemos. É uma impressão de não pertencimento, dolorosamente palpável.
À época da preparação de “Abril despedaçado”, você comentou que o filme, mesmo situado em espaço e tempo não definidos, não deixaria de estar ligado à questão da violência no Brasil. “A realidade atingiu um estágio em que não há ficção que possa chegar aos seus pés”, afirmou, em declaração reproduzida no livro “Abril despedaçado: A história de um filme”. Continua acreditando que é impossível para a ficção chegar ao atual estágio da realidade brasileira?
A escalada de violência assume contornos cada dia mais bárbaros – como atestam os assassinatos de Moise Kawagambe e de Durval Teófilo Filho, para citar os mais recentes. “O Brasil é um país em que o racismo está em carne viva”, afirma a socióloga Vilma Reis. Essa banalização da violência atinge jovens imigrantes, milhares de jovens negros nas periferias, centenas de lideranças indígenas. O genocídio virou política de Estado. “A temporada é de caça, e Bolsonaro armou os caçadores”, proferiu recentemente o vereador Renato Freitas. Como dar conta dessa exponencialização da violência, e de suas raízes estruturais? A literatura tem cumprido bem esse papel. Penso no extraordinário “O avesso da pele”, de Jeferson Tenório, que fala como poucos da nossa crise identitária e do racismo estrutural brasileiro, ao mesmo tempo em que trata magistralmente de linguagem e literatura.
Qual gênero cinematográfico seria mais adequado para retratar os últimos anos do Brasil?
Como dar conta das múltiplas formas de asfixia que nos afligem? São tantas frentes, que todos os instrumentos são necessários para retratá-las: a ficção, o documentário, os registros no calor do momento, feitos nos celulares. Vi há pouco um longa documental excepcional de Jorge Bodanzky, em fase final de montagem: “Amazônia – Minamata”. O filme faz a ligação entre o uso indiscriminado de mercúrio nas terras invadidas por garimpos na Amazônia e as consequências do uso criminoso de mercúrio em Minamata, no Japão, nos anos 1950. Tanto em Minamata, quanto na Amazônia de hoje, é o futuro das pessoas que está em jogo. O documentário de Jorge Bodanzky é um soco no estômago, um filme obrigatório.
Em “Deserto particular”, de Aly Muritiba, assim como em “Central do Brasil”, um dos protagonistas faz um deslocamento geográfico (da metrópole urbana para o interior nordestino) que também acarreta num profundo deslocamento íntimo. Depois de alguns conflitos, a superação de diferenças vem pela necessidade de expressão de afeto. Acredita que a situação mostrada nos dois filmes pode sinalizar uma possibilidade de saída para um país enfermo e exausto de conflitos?
“Deserto particular” é um grande filme, escrito, dirigido e interpretado com uma rara sensibilidade. Aly Muritiba abre possibilidades de escuta em um momento de absoluta incomunicabilidade. Sintomaticamente, “Compartimento 6”, um ótimo filme finlandês que disputou a indicação ao Oscar de melhor filme internacional este ano, trata de um tema similar. Nele, dois personagens diametralmente opostos encontram aos poucos pontos de convergência, numa longa viagem de trem através da Sibéria. Talvez estejamos cansados de tantas distopias. Essa transformação pelo afeto, em uma era marcada pela desumanização da sociedade, também era o vetor de “Central do Brasil”.
Como estariam Dora e Josué no Brasil de hoje?
Nessa terra em transe, Josué e Dora estariam provavelmente sofrendo os efeitos de uma gestão desastrosa nas áreas mais vitais da sociedade. Mas não estariam derrotados – ambos são guerreiros, eles não cederiam facilmente.
Quais produções audiovisuais recentes brasileiras o impressionaram? E da América Latina? Você tem acompanhado os trabalhos da produtora mineira Filmes de Plástico?
“Fico te devendo uma carta sobre o Brasil”, filme de estreia arrebatador de Carol Benjamim. Gostei muito de “Seiva bruta” de Gustavo Milan, um curta que trata de forma singular das questões do exílio e da emigração. Sou fã de André Novais desde os curtas, e achei “Temporada” um filme de rara humanidade, com uma Grace Passô em estado de graça. Os filmes de André são habitados, ficam ecoando dentro de nós. Gostei da inquietação e da mirada de “No coração do mundo”, de Gabriel Martins e Maurílio Martins. E de “Arábia”, de Affonso Uchôa e João Dumans, um filme que me marcou. Ainda em Minas, gosto demais dos filmes de Cao Guimaraes, da sensorialidade que emana de cada viagem que ele nos propõe. Cao é um artista e tanto.
Qual o impacto da atual gestão no Ministério da Cultura e da Ancine na produção audiovisual brasileira? Está mais difícil filmar?
A cultura vive o mesmo estado de asfixia que gangrenou o país como um todo. O Brasil nunca tratou tão mal sua memória pública e coletiva. O cinema sobrevive malgrado toda a força contrária para anulá-lo. A falta de regulamentação em relação às plataformas também é alarmante quando comparada com os países europeus, onde essa relação é regida por normas que fazem sentido para todos.
“As histórias que eu escrevo serão sempre para telas muito grandes”, afirmou Pedro Almodóvar recentemente, em entrevista publicada em O Globo. E as histórias que você quer contar? Filmes como “Central do Brasil” e “Terra estrangeira” teriam provocado o mesmo impacto se houvessem sido lançados diretamente nas plataformas de streaming?
Concordo com todos que defendem que um filme deve estrear na tela do cinema, como parte uma experiência coletiva – o que acontece desde os irmãos Lumière. Penso que estamos caminhando para a coabitação entre o cinema e as plataformas. Isso dito, a volta às salas de cinema depende de um controle eficaz da pandemia – e, portanto, do respeito à ciência. Países que foram mais consequentes nesse combate são aqueles onde a frequência nos cinemas voltou mais rapidamente, como na Austrália.
“Ainda estou aqui”, título do livro de Marcelo Rubens Paiva que você anunciou como um de seus próximos projetos, também se aplica ao cinema como o conhecemos no século 20? Por que levar essa história às telas?
O livro de Marcelo me impactou profundamente pela sua extraordinária dimensão humana e política. É um relato ao mesmo tempo trágico e de grande beleza, que merece ser contado para nos lembrarmos de quem nós somos, pelo que passamos, de onde viemos. E, sim, o filme deverá estrear primeiro na tela grande.
“O passado é conservado por ele mesmo, nos segue por toda a vida. Mas a memória também se apaga”, lembra Marcelo Rubens Paiva em “Ainda estou aqui”, ao descrever a situação da mãe, com Alzheimer. “Mas e quando o presente não faz sentido? Quando ele passa a não existir, vira um furacão de imagens, um vento que impede de se enxergar com clareza?”, ele questiona. Acredita que o presente, no Brasil, também perdeu o sentido e mergulhamos em “um furacão de imagens”? Qual a importância de preservar o passado, de resgatar a memória nesse cenário?
Sem conhecer e habitar esse passado, seremos condenados a repetir os erros no presente. No personagem de Eunice Paiva, há a busca pelo resgate de uma memória individual, mas também coletiva. Restam muitas estórias do Brasil a serem contadas, e essa é uma delas.
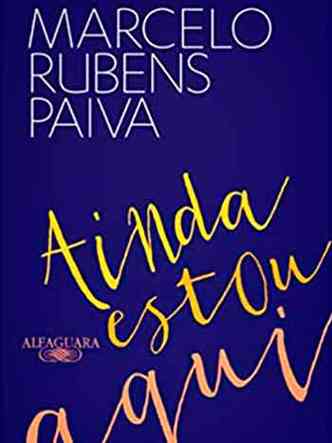
O resgate da memória
Walter Salles vai dirigir a adaptação para as telas de “Ainda estou aqui” (Alfaguara, 2015), de Marcelo Rubens Paiva. O livro narra a luta de Eunice Paiva, viúva do deputado Rubens Paiva e mãe do escritor, contra o mal de Alzheimer nos últimos anos de vida. “É uma doença que ataca toda a família”, lembra o autor no capítulo “O alemão impronunciável”. “Como Deus pode ser tão imprudente e imputar tanto sofrimento a uma pessoa só? Essa doença não era para acontecer, não tinha que acontecer, não nela! Por que provação mais a minha família devia passar? Por que nos testavam até o limite? Chega! Queríamos um descanso. Não teríamos”, narra Marcelo.
Como pano de fundo, a batalha da família para resgatar a memória de Rubens Paiva, desaparecido político, morto durante a ditadura militar, e a reconstituição de uma trajetória admirável, que incluiu a mudança de rumo de vida quando, mãe de cinco filhos, Eunice se formou em direito, passando a defender causas como os direitos dos povos indígenas.
Como pano de fundo, a batalha da família para resgatar a memória de Rubens Paiva, desaparecido político, morto durante a ditadura militar, e a reconstituição de uma trajetória admirável, que incluiu a mudança de rumo de vida quando, mãe de cinco filhos, Eunice se formou em direito, passando a defender causas como os direitos dos povos indígenas.
Filmografia
“A grande arte” (1991)
“Terra estrangeira” (1995, com Daniela Thomas)
“O primeiro dia” (1998, com Daniela Thomas)
“Central do Brasil” (1998)
“Abril despedaçado” (2001)
“Diários de motocicleta” (2004)
“Água negra” (2005)
“Linha de passe” (2008, com Daniela Thomas)
“On the road: na estrada” (2012)
“Jia Zhangke: Um homem de Fenyang” (2014)
