
Patrícia Galvao. No dossiê que consta ao final de “Pagu no metrô”, na reprodução da página de um arquivo, chama a atenção a ausência do acento. O sobrenome grafado sem o til fornece uma pista preciosa para pensar o processo compositivo do quinto romance de Adriana Armony. Ausente dos documentos oficiais franceses, este acento tão brasileiro, índice de nosso falar anasalado, marca a proposta da narrativa: compreender o ano de Pagu passado em Paris, em que Galvão vira Galvao. Não se trata de qualquer Pagu, e sim aquela que entre 1934 e 1935 viveu na França. Armony pesquisa, anota e escreve ao longo do relato na busca de traços da artista e militante comunista. O ano vivido por Pagu, o ano narrado por Adriana Armony. Sem acento. E em primeira pessoa.
Desde os diversos pseudônimos usados (Patsy, Mara Lobo, Solange Sohl) Pagu já é muitas, ao que se soma aquela projetada por outros – a de Geraldo Ferraz, a de Raul Bopp, a da música de Rita Lee, a do filme de Norma Bengell. Em “Pagu no metrô”, a escritora carioca retoma o fio tecido desde “A fome de Nelson” (2005), em que narra um período da vida do autor de “Vestido de noiva” investigando as possibilidades literárias advindas da “trapaça biográfica”, expressão presente no romance. Enquanto lá Nelson Rodrigues se torna personagem, aqui temos uma Pagu plasmada na dobradiça entre ficção e realidade. “Quem poderá dizer que o meu é menos ou mais verdadeiro que outros que todos os dias nascem e morrem, nas páginas dos livros e nas camas dos hospitais”, indaga o narrador de seu primeiro livro, sinalizando que a noção de verdade absoluta não é objetivo a ser alcançado. Importa explorar ficcionalmente aspectos biográficos do personagem escolhido, e nesse sentido a fascinante Pagu é uma aposta e tanto.
Jornalista e escritora, ela foi à Rússia, China e Japão, militou em Paris, foi presa diversas vezes, tentou alfabetizar outras mulheres no presídio, passou por inúmeras dificuldades financeiras. Politizada em um ambiente machista, se viu diante de uma série de adversidades, como no episódio em que foi considerada agitadora individual e inexperiente pelo Partido Comunista. Abortos e tentativas de suicídio fizeram parte dessa vida intensa e atribulada, que inclui a relação com Oswald de Andrade, pai de um de seus dois filhos.
O romance é narrado pela personagem Adriana Armony, outra dobra da escrita a revelar a fronteira tênue entre fabulação e biografia. Não à toa, quando visita a Catedral de Rouen, pintada por Monet nos famosos quadros em diversas horas do dia, a narradora explicita o desejo de também trabalhar com luz e sombra, ciente da impossibilidade de revelar visão única de seu personagem: “Gostaria de pintar Pagu assim, não apenas com minhas palavras de escritora, mas também com as histórias, as decepções e esperanças que a atravessam, como uma leitora”.
Conectar experiências
Na perspectiva de alguém que lê distintas paisagens, surgem Paris e Rio de Janeiro justapostas, metrópoles que engolem e devolvem milhares de pessoas diariamente de dentro de suas entranhas. No período de permanência da narradora na capital francesa para pesquisar registros e documentos, a greve geral de 2019 se insinua a todo momento, e os protestos da população no presente ecoam muitos dos valores defendidos pela artista modernista: justiça social e luta pelo pelos direitos dos trabalhadores são o grito de uma Paris que ferve e se mobiliza. Então Armony pode conectar experiências, enxergando na inauguração do jardim em homenagem a Marielle Franco ecos da mulher libertária cuja vida biografa.
Por vezes, a narrativa transita pela via do suspense, ao indagar o que de fato teria acontecido naquele período com a personagem, multiplicando perguntas sobre sua trajetória – a dúvida se instala e muitas indagações permanecerão sem resposta. Mas outras descobertas revelam pequenas joias sobre a temporada francesa: além de se envolver no corpo a corpo da vida pública, Pagu escrevera o romance “Água”, nunca publicado e enterrado em um terreno em São Paulo para evitar a apreensão da polícia. Arte e política caminham de mãos dadas, e neste momento em que se busca ressignificar os anos modernistas parece ainda mais necessário olhar para aquela que acreditou ferozmente no entrelaçamento de tais esferas.
O desenlace apresenta uma bela cena autobiográfica, em que a narradora vai revelando as próprias motivações. Essa figura enigmática, espectro de uma mulher fragilizada fisicamente pelas tantas dores que atravessaram seu corpo, agora se materializa diante da pesquisadora, transformada pelo gesto da escrita. Dentro da estação, em um clima onírico se dá o encontro das duas. A passagem reverbera “Zazie no metrô” (1959), de Raymond Queneau, mas, ao contrário do livro do escritor francês, em que a protagonista não consegue se deslocar em função de uma greve, Armony ganha Paris pelos caminhos subterrâneos, motivada pelo projeto Pagu. No entanto, ela sempre escapa.
Tempos e espaços se entrecruzam, e já não importam malogros, arquivos não encontrados, listas incompletas. Zazie, Patrícia, Solange Sohl, Adriana, todas concorrem para formar uma narrativa possível, impulsionada pela procura que não se dá apenas entre túneis e pastas de documentos, mas no embaralhar entre vida e obra. Estar viva é permitir o salto em direção ao agora, em que Pagu ainda brilha com força descomunal, longe das fichas amareladas. Zazie, menina curiosa que queria conhecer Paris, se desdobra na irreverente Pagu, que por sua vez se vê espelhada em Adriana. Depois da travessia labiríntica empreendida por elas, Paris não será a mesma.
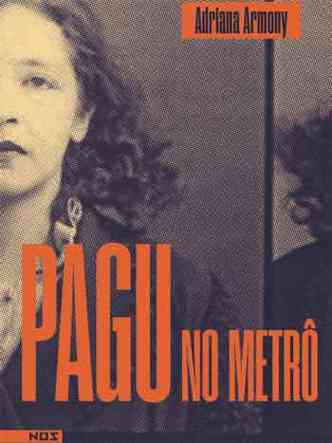
TRECHO
(De “Pagu no metrô”, de Adriana Armony)
“Em Paris, aprendo a usar e a amar os dossiês. Percorro as páginas com infinito cuidado, admiro as classificações, sua inconstância. Compro pastas, enfileiro papéis com carimbos como uma colegial esforçada. Descobrirei em breve que esta é apenas a pele que recobre os documentos, como o perfume recobre um corpo.
(Existe um verdadeiro livro? Um livro melhor?)”
“Pagu no metrô”
• De Adriana Armony
• Editora Nós
• 144 páginas
• R$ 68
A urgência da revolta em “Parque industrial”
Publicado em 1933 com o pseudônimo de Mara Lobo, “Parque industrial” foi escrito quando Pagu tinha 21 anos. Estruturado em dezesseis capítulos curtos, com títulos diretos como “Um burguês oscila” e “Trabalhadoras de agulha”, o romance se passa no bairro paulistano do Brás e põe em cena personagens das classes operárias. Engajada no Partido Comunista desde 1930, a autora tem pretensão didática ao nomear a necessidade imperativa da transformação da sociedade e de uma ação política dos explorados. Pagu crê fortemente na mobilização: “a satisfação intelectual não me bastava... As teses isoladas irritavam-me. Era necessário concretizar [...]. Tenho muita força. Onde irei empregar esta força? É preciso dar esta força”, afirma em “Autobiografia precoce”, espécie de carta escrita em 1940 ao segundo marido, Geraldo Ferraz.
No romance também surgem inúmeras referências biográficas, como a Escola Normal e o bairro em que viveu, além dos salões burgueses de uma certa intelectualidade paulistana. Pagu transita por todas essas esferas e com grande perspicácia estrutura uma narrativa que continua suscitando interesse: “Parque industrial” se sustenta pela qualidade literária, com o predomínio de uma linguagem telegráfica, de frases curtas compostas de flashes e cortes cinematográficos: “O bonde se abarrota. De empregadinhas dos magazines. Telefonistas. Caixeirinhos. Toda a população de mais explorados, de menos explorados. Para os seus cortiços na imensa cidade proletária, o Brás”.
Surge no relato a dimensão coletiva do proletariado, observada pelo olhar atento à dimensão feminina, de mães operárias que não tem o direto de estar com os filhos, sem nenhuma folga e trabalho dominical, de criadas humilhadas conspirando nas cozinhas, mas também de intelectuais e feministas da elite de São Paulo. Comparecem personagens como a costureira negra Corina, grávida do amante e abandonada pelo homem que a seduziu. Despedida, termina em um bordel barato junto a tantas outras mulheres em situação vulnerável como a dela. Integram esse painel a normalista Eleonora e a operária Otávia, além da imigrante Rosinha Lituana, trabalhadora da fábrica de tecidos desde os doze anos. Em contraponto, Alfredo Rocha, burguês fanfarrão que lê Marx de pijama de seda em seu apartamento no hotel Esplanada, possível alusão a Oswald de Andrade, financiador da primeira edição do livro.
No romance, a autora satiriza a hipocrisia de uma sociedade que sustenta muitas relações de fachada, disparando frases cruas como “A burguesia tem sempre filhos legítimos. Mesmo que as esposas virtuosas sejam adúlteras comuns”. Amor, sexo e dinheiro surgem entrelaçados, à semelhança de “Amar: verbo intransitivo” (1927), de Mário de Andrade, romance protagonizado pelo pai de família que contrata os serviços de uma preceptora alemã para iniciar sexualmente o filho Carlos – um “burguês chatíssimo”, segundo o próprio autor.
À época, Pagu tinha dúvidas sobre a qualidade do livro, mas a leitura hoje revela que não estamos diante de um panfleto, pois a autora foi além da propaganda política tão cara aos seus ideais. É notável sua capacidade de perceber detalhes reveladores: muitos dos personagens se notabilizam pelas bocas maltratadas, com dentes cariados, uma gente que come “na pausa para o almoço pão com carne e banana ou um ovo duro”. A precariedade da vida proletária surge com força nesse índice de pertencimento social e se opõe ao sorriso dos que ostentam bocas perfeitas. Vale lembrar que o protagonista de “O cobrador”, de Rubem Fonseca, quase cinquenta anos depois, inicia o célebre conto em um consultório de dentista, na tensão de uma cena entre o profissional e o protagonista sem dinheiro para tratar o dente que dói. O abismo entre as classes sociais deflagra violenta cobrança de quem decide cessar a corrente de exploração.
“Parque industrial” revela uma Pagu revoltada pela injustiça e fala de um cenário generalizado no mundo capitalista, em que o suor dos operários “se transforma no champanhe jogado fora por seus patrões”. Patrícia Galvão soube transformar em palavra a urgência da revolta, construindo um romance que não envelheceu – a precarização do trabalho, a fome das bocas banguelas e a desigualdade social gritam no Brasil de agora. Menos musa a inspirar docemente os poetas, mais uma voz potente a retratar as dores de nosso tempo.
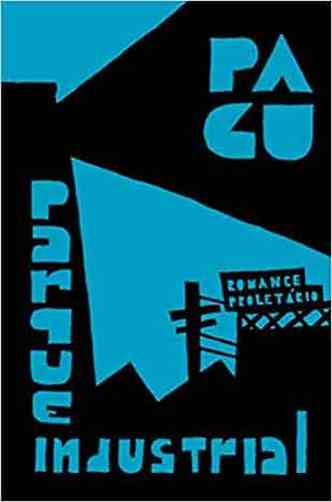
TRECHO
(De “Parque industrial”, de Patrícia Galvão)
Os dentes orgulhosos de outros tempos sorriem falhos e amarelos num carinho. A menina foge. Mergulha as mãos na tina de espuma. A mulata friorenta ajeita o casaco levantando a gola alta até o nariz. Observa parada as lavadeiras de cócoras e ajoelhadas, trabalhando. Nunca mais trabalhara. Quando tem fome abre as pernas para os machos. Saíra da cadeia. Quisera fazer nova vida. Procurara um emprego de criada no Diário Popular. Está pronta a fazer qualquer serviço por qualquer preço. Fora sempre repelida. Entregara-se de novo à prostituição.
“Parque industrial”
• De Patrícia Galvão
• Companhia das Letras
• 112 páginas.
• R$ 49,90
ENTREVISTA/Adriana Armony
“É quase tudo verdade em ‘Pagu no metrô’”
Qual foi o impulso inicial para “Pagu no metrô”? O que a moveu a escrever o livro?
Há muito tempo eu achava Pagu uma figura fascinante. Em torno dela desenvolveu-se todo um imaginário. Ela encarna o mito da mulher polêmica, irreverente, engajada e emancipada, mas é muito mais complexa do que se costuma imaginar. Meu primeiro arrebatamento se deu com a leitura da extensa carta que Patrícia escreveu na prisão a Geraldo Ferraz, e que mais tarde viria a ser publicada com o título “Autobiografia precoce”. Ali se revela uma mulher inteligente, sensível, crítica, cheia de contradições até hoje presentes na condição feminina, assim como na militância política. Ícone da história cultural e literária brasileira, feminista avant la lettre, mulher, mãe e profissional, a trajetória de Pagu reflete não apenas desejos e contradições de uma época, mas de toda uma luta. Porque se nenhuma vida pertence inteiramente a si mesma, existem aquelas que se tornam um emblema. A carta confissão de Patrícia abriu para mim um mundo de possibilidades, de leituras e releituras. Pude perceber a força do seu livro “Parque industrial”, qualificado como primeiro romance proletário brasileiro, mas que, pelo protagonismo e força das personagens femininas, poderíamos ler também como um romance feminista. Li com admiração seus poemas, escritos sob pseudônimos como Solange Sohl, e percorri suas inúmeras crônicas e ensaios, que revelam uma intelectual atuante e madura. Sua própria história pode ser lida e reescrita de múltiplas formas. Muito mais do que um mito, Patrícia era uma escritora, uma intelectual e uma militante pela arte. Foi depois da leitura da carta confissão que decidi me aprofundar na vida e na obra de Pagu. E notei uma lacuna: quase não se encontram textos da autora entre os anos de 1933, data de publicação de “Parque industrial”, e 1942, quando publicou crônicas no jornal “A Noite” sob o pseudônimo de Ariel. Sabe-se, porém, que, entre 1934 e 1935, morou em Paris, onde militou no Partido Comunista Francês sob o pseudônimo de Léonie, frequentou os meios surrealistas e foi redatora da revista L’ Avant-Garde. Mas também os dados biográficos desse período eram escassos. Havia ainda um fato intrigante: a longa carta confissão dirigida a Geraldo Ferraz se interrompia imediatamente antes da sua chegada em Paris, sem uma conclusão, sem uma despedida. Por quê? Assim, em fevereiro de 2019, pedi uma licença de um ano do Colégio Pedro II, onde trabalho, e viajei a Paris para pesquisar, para um pós-doutorado, este período praticamente intocado: a temporada de Pagu em Paris, entre os anos de 1934 e 1935. Das descobertas da pesquisa, reflexões sobre Pagu e andanças por Paris nasceu esse romance híbrido, narrativa-pesquisa-ensaio-delírio, que é “Pagu no metrô”.
O que foi mais importante para o seu trabalho? A pesquisa ou a invenção?
Ambos estão indissoluvelmente ligados: sem um não haveria outro. Sendo romancista, tenho uma inclinação especial pela fabulação literária. E, como no caso da autora e a personagem, a fabulação contém a pesquisa. Mas, para ser bem exata, em “Pagu no metrô” a invenção está mais no campo do trabalho literário do que nos fatos e no enredo. Em “Pagu no metrô” é (quase) tudo verdade, dos acontecimentos aos pensamentos e delírios. Foi um livro escrito praticamente em tempo real, com apenas pequenas alterações nos nomes ou características dos personagens.
Hoje se nota uma forte presença da autoria feminina na literatura, bastante diferente do momento em que Pagu atuou. A massa ainda há de comer o biscoito fino fabricado por Pagu?
Curioso que essa frase de Oswald de Andrade apareça em 1935, em uma carta do escritor publicada no primeiro número da revista modernista Ritmo, portanto, depois da conversão política do escritor por Pagu e da viagem dela a Paris. A frase só poderia ser dita por alguém que tem a ambição de atingir um público mais amplo e popular, embora sem abrir mão do que entende por qualidade e refinamento da literatura. É uma frase polêmica. Enquanto Silviano Santiago vê nela uma postura elitista dos modernistas quanto à forma de conceber a educação do povo brasileiro, ao postularem que a “massa” incorporasse um conhecimento que lhe seria alheio e inoculado de cima para baixo, José Miguel Wisnik, simpático à frase, destaca o trocadilho entre “massa” e “biscoito”, que indicaria a interação entre ambos, na linha antropofágica. Também vejo desta forma. Quanto à massa, comer o biscoito fino fabricado por Pagu e outras mulheres, certamente já está comendo! Obstáculos que antes eram naturalizados ou pareciam intransponíveis, como a desvalorização da literatura escrita por mulheres, a imposição de limitações temáticas, a premiação quase inexistente e a exclusão de escritoras do cânone têm se reduzido significativamente. Acredito que Pagu, como tantas outras escritoras redescobertas, faz parte dessa fábrica coletiva. Há ainda, é claro, o problema das circunstâncias que afetam o livro e a todos os escritores no Brasil: os problemas de distribuição em um país de dimensões continentais e com uma precária rede de livrarias; a má qualidade e a pequena quantidade de bibliotecas públicas; o preço dos livros; a educação precária que pouco forma leitores; as leituras de mundo padronizadas por algoritmos; enfim, a ausência de políticas públicas voltadas à leitura. Torçamos para que essas políticas sejam recriadas e expandidas em breve e possam proliferar biscoitos de todos os tipos.
Qual Pagu mais importa, a autora ou a personagem?
A personagem, porque contém também a autora! A personagem de “Pagu no metrô” foi imaginada a partir de leituras de textos da autora, da pesquisa que realizei e da projeção de experiências, minhas e de outras mulheres. A personagem engloba tanto autora e quanto a pessoa Pagu; abrange a coleção de heterônimos de Patrícia, a que veio se somar, com emoção, a autora e personagem Adriana.
Pagu era considerada por muitos uma mulher à frente do seu tempo. Esse tempo chegou?
Pagu não era apenas à frente do seu tempo: era também fora do tempo. Avessa à hipocrisia, corajosa e autêntica num momento histórico em que as mulheres praticamente não tinham voz, o que mais desejava era se entregar a um ideal, mesmo que tivesse de sofrer consequências terríveis. Nesse sentido, para essa “militante do ideal”, como a definiu uma vez o companheiro Geraldo Ferraz, esse tempo nunca poderá chegar integralmente. Por outro lado, esse desejo de liberdade, essa luta pela própria voz, não só da parte de Pagu mas de tantas outras mulheres, impulsionou mudanças sociais e culturais importantíssimas, conquistas do feminismo, apesar de toda a resistência e violência do patriarcado que subsiste. Então, a resposta é: esse tempo está, sim, mais próximo; e não.
* Stefania Chiarelli é professora e pesquisadora de literatura brasileira na Universidade Federal Fluminense (UFF)
* Stefania Chiarelli é professora e pesquisadora de literatura brasileira na Universidade Federal Fluminense (UFF)
