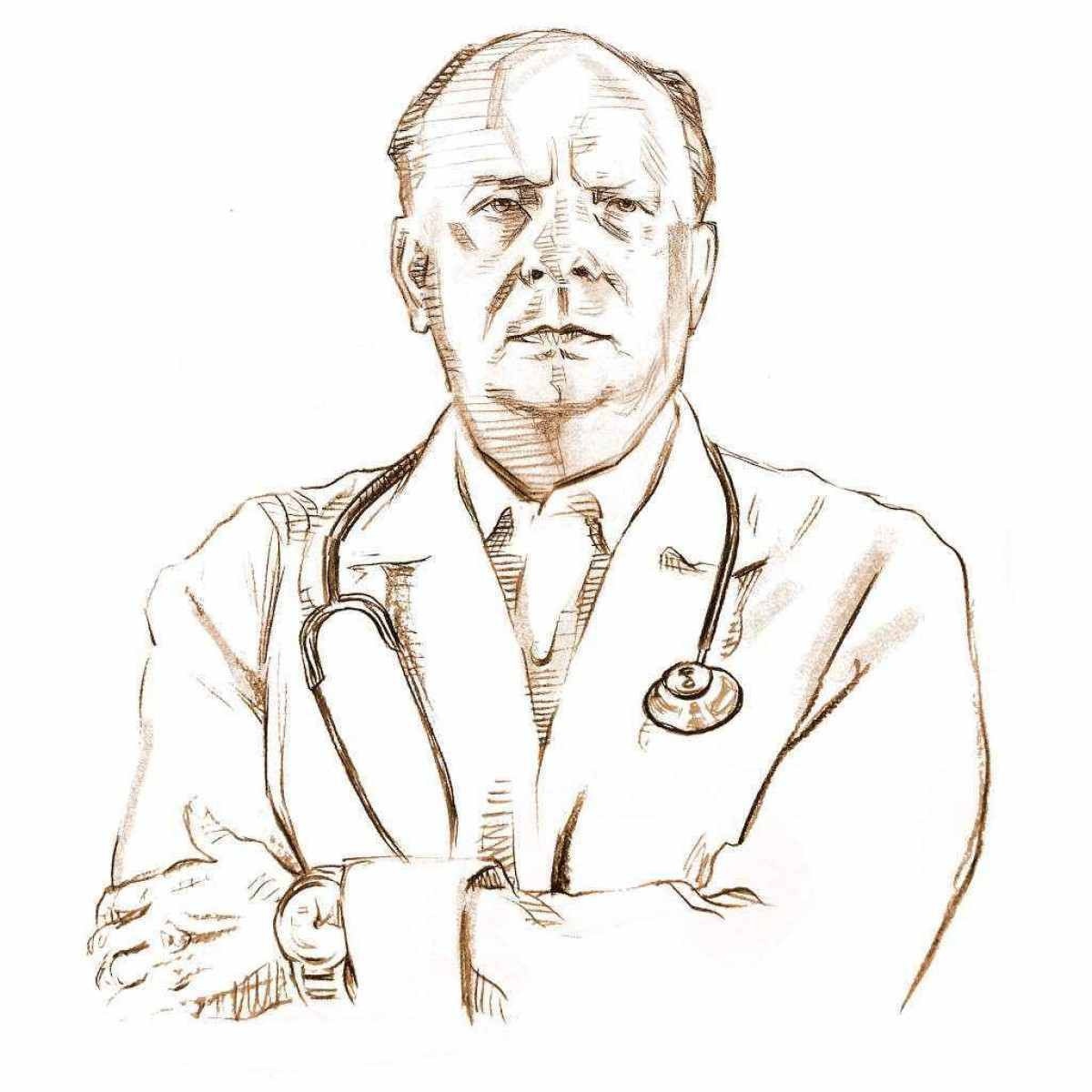Esse ritual dominical de ir à padaria é um retorno ao passado, sim, mas também um renascimento de cada momento, uma escolha consciente de afirmar a vida em sua forma mais simples e, por isso, verdadeira
Aos domingos, tenho o hábito de levantar enquanto todos ainda dormem. É como um pequeno rito solitário, íntimo, no qual caminho lentamente pela casa silenciosa, percebendo o ar parado da madrugada e o despertar gradual do dia. Ao verificar a despensa e constatar que pouco restou para o café da manhã, troco de roupa e sigo para a padaria próxima. Esse percurso é um breve diálogo com a manhã, com o frio que revigora, com a expectativa do pão quente, quase como uma promessa de calor e vida.
Sou recebido pelo Sr. Toninho, um homem cujo rosto e gestos já não pertencem ao mundo acelerado dos jovens. Ele é como uma árvore antiga fincada na porta da padaria, com raízes que se misturam ao solo do lugar e os olhos que parecem ter visto mais do que revelam. Com um sorriso plácido, ele acena a todos que entram, cumprimentando-os como se cada freguês fosse um antigo amigo. A cada domingo, sua presença é um lembrete silencioso de que a vida é mais profunda quando vivida lentamente, como um rio que escava seu leito com paciência.
Nesse horário, os fregueses são, em sua maioria, velhos. Homens e mulheres de cabelos grisalhos, olhares serenos, que já caminharam longas estradas e agora preferem as manhãs tranquilas aos frenesis do dia. Velhos, talvez, já dormiram tudo que precisavam. Acordam cedo porque o tempo, para eles, é uma substância rarefeita, preciosa, que deve ser saboreada. Desfrutar as manhãs de domingo e "botar o café na mesa" é um ato sagrado que os transporta para um tempo de juventude, quando a vida ainda parecia eterna, e o pão quentinho era símbolo de aconchego e nutrição.
O pão é mais que um alimento; é uma conexão com algo maior, com algo que Spinoza descreveria como a essência da própria existência. É uma manifestação do que há de eterno na repetição dos gestos simples. É o ritual de quem, ao tocar o pão, toca o próprio ser, aquilo que é mais íntimo e duradouro, além do corpo, além do tempo. Para velhos, botar o café na mesa é um gesto de liberdade, não a liberdade fugaz e ilusória das escolhas infinitas, mas a liberdade que vem do saber-se parte de algo maior e imutável.
O aroma do café, impregnado no ar, é mais do que um estímulo ao paladar. Ele acorda memórias, ativa os sentidos de maneira quase sagrada, remetendo aos tempos passados, às vozes de quem já partiu. Nietzsche diria que há grandeza em abraçar a vida com todos os seus momentos, bons e maus, através do eterno retorno. Esse ritual dominical de ir à padaria é um retorno ao passado, sim, mas também um renascimento de cada momento, uma escolha consciente de afirmar a vida em sua forma mais simples e, por isso, verdadeira.
Minha mulher acorda e, sem notar minha ausência, abre o celular e faz o pedido do pão pelo aplicativo. Em poucos minutos, o motoqueiro chega com o pão que pedi pessoalmente, e os dois pães chegam ao mesmo tempo na mesa. O meu, aquecido pela espera, pelo toque, pelo olhar. O dele, frio, impessoal, embalado em uma sacola plástica, sem história, sem saudades, sem a marca das mãos. A diferença entre os dois é mais do que uma questão de temperatura; é a diferença entre o real e o ilusório, entre o encontro e o anonimato.
O mundo digital, em um só gesto, eliminou o Sr. Toninho, eu, os outros velhos que buscam o pão dominical, o canto dos bem-te-vis, o cheiro do café. Esse mundo acelerado substituiu a experiência pela pressa, a presença pelo clique. Spinoza nos lembra que a essência de uma coisa é o que ela é capaz de fazer, e neste mundo de conveniência, reduzimos tudo ao mínimo, esvaziando os gestos de sentido e os transformando em pura utilidade.
Vivemos em uma era que Nietzsche descreveria como a era dos "últimos homens", na qual as pessoas preferem conforto à grandeza, rapidez à profundidade. É um tempo sem espaço para o esforço, para o caminhar lento até a padaria, para o olhar demorado ao redor, para a troca de um sorriso. A tecnologia nos promete liberdade, mas não é uma liberdade que emana da própria força de ser; é uma liberdade que nos aprisiona em uma bolha de desejos passageiros e efêmeros, onde a verdadeira liberdade de ser, como diria Nietzsche, de afirmar a vida como ela é, fica cada vez mais distante.
Ao contrário do que se pensa, a era digital não nos aproximou; ela nos isolou, nos fragmentou em pequenas partes desconexas, em dados, em algoritmos, em gestos que não se tocam. O motoqueiro, que traz o pão sem contato com ninguém, é a representação do que Nietzsche via como o risco da massificação: uma multidão de indivíduos que não se encontra, não se vê. E, assim, o proletário é substituído pelo "precariado", uma classe de trabalhadores sem vínculo, sem chão, que vive à mercê de forças invisíveis.
Os velhos que buscam pão aos domingos não precisam de selfies, de curtidas ou de aprovações alheias. Para eles, o sentido da vida não está no olhar do outro, mas na fidelidade a si mesmos, na aceitação do seu lugar no mundo. Eles não buscam fama, mas apenas o pão quente, o cheiro de café, o sorriso do Sr. Toninho. É uma liberdade que Nietzsche chamaria de "amor fati", o amor pelo destino, pela vida tal como ela é, sem filtro, sem máscara.
Esses velhos são heróis do cotidiano, sobreviventes de um tempo que os devora. E o Sr. Toninho, com seu sorriso de sempre, é o guardião de um pedaço de humanidade. Na padaria, ainda se pode experimentar o que Spinoza chamaria de "conatus", o esforço de ser, a resistência à erosão da individualidade em um mundo que tudo transforma em mercadoria, em velocidade, em pressa.
No final das contas, buscar o pão aos domingos é mais do que saciar a fome; é reafirmar a própria existência em um mundo que, cada vez mais, esquece o valor das coisas simples. É um pequeno ato de revolta contra a pressa, uma resistência silenciosa à superficialidade. O pão que trago nas mãos é calor, é sustento, é memória. E, enquanto houver velhos dispostos a caminhar até a padaria, enquanto houver um Sr. Toninho para nos receber, o mundo ainda guardará um canto de eternidade.