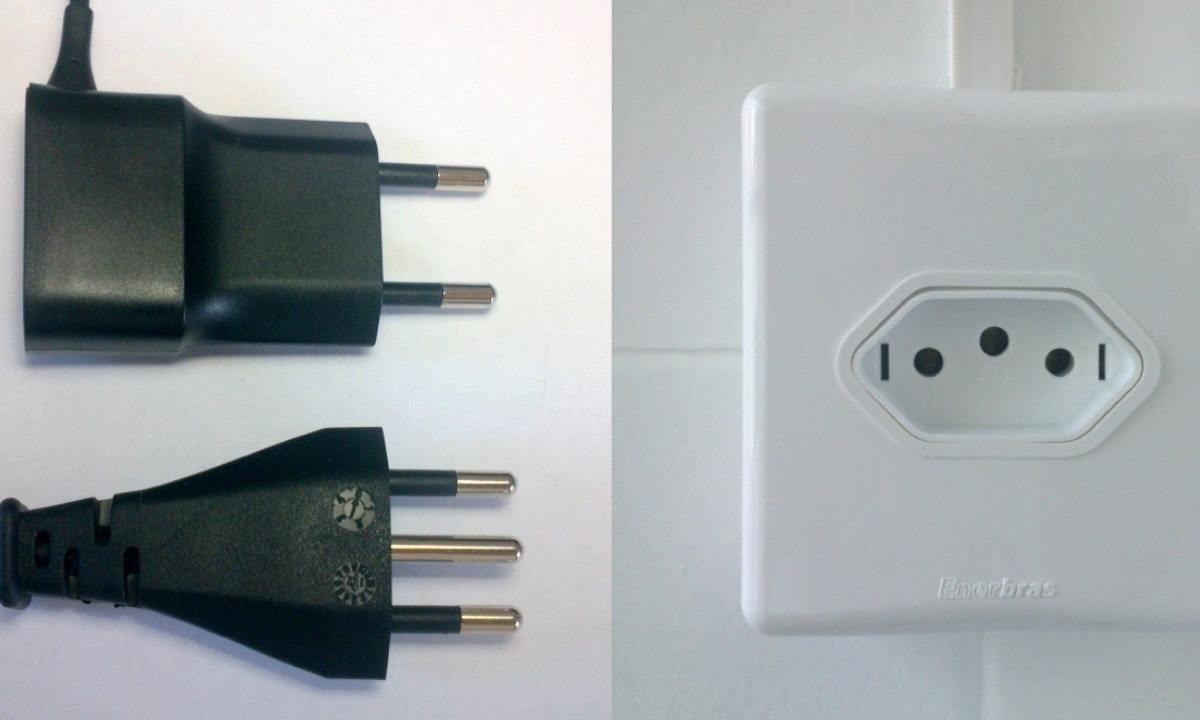Rua com prédios de fachada ativa, com lojas no nível térreo
Robert Moses foi um urbanista, quando o urbanismo ainda não era uma profissão. E foi como funcionário público à frente de vários cargos de influência, poderosíssimo a ponto de impor, de forma quase autoritária, profundas mudanças em Nova York. Moses supervisionou a construção de dezenas de vias expressas e pontes, incluindo a Triborough Bridge e a Verrazzano-Narrows Bridge, além da remodelação de setores da cidade, da criação de parques e áreas verdes, e equipamentos culturais, como o Lincoln Center.
Provando que boas ideias e grandes realizações não garantem um legado positivo, o projeto pelo qual Moses é mais conhecido é também a sua desgraça. O Lower Manhattan Expressway (também conhecida como LOMEX) era um projeto viário colossal, que atravessaria o sul da ilha de Manhattan com uma rodovia elevada de dez pistas rasgando o coração de Lower Manhattan pelos bairros de SoHo, Little Italy, Chinatown e o Lower East Side.
A Lower Manhattan Expressway foi concebida para, claro, facilitar o tráfego de veículos, resolver questões de mobilidade e, como não poderia deixar de ser, levar a cidade para o futuro.
Não por acaso, o projeto enfrentou forte oposição dos moradores locais, comerciantes e ativistas comunitários, que temiam a destruição de bairros históricos e comunidades vibrantes. Dentre esses, estava Jane Jacobs, uma das vozes mais influentes contra a LOMEX, argumentando - com toda a razão - que o projeto destruiria o tecido social e econômico dos bairros afetados.
O projeto da Lower Manhattan Expressway foi finalmente cancelado no início da década de 1970, e é um marco na história do ativismo urbano, simbolizando a resistência contra projetos de renovação urbana que desconsideram o impacto nas comunidades locais. Mais do que isso, enfatiza a importância de abordagens mais humanas no planejamento urbano.
A campanha contra a Expressway deu voz à visão de Jane Jacobs por cidades vivas e diversificadas, traduzidas e explicadas (com exemplos e clareza suficientes) em seu livro mais famoso (e, para mim, o importante de todos em se tratando de cidades), "Morte e Vida de Grandes Cidades" (1961).
Considerado hoje leitura obrigatória para gestores públicos e urbanistas, "Morte e Vida de Grandes Cidades" critica as práticas de planejamento urbano (da época, mas que se aplicam a qualquer - ou a todas - as cidades brasileiras) e defende uma abordagem mais orgânica e comunitária para o desenvolvimento das cidades.
É ali que Jacobs introduz, pela primeira vez, o conceito dos "olhos da rua", como fator de resiliência, segurança, diversidade, inclusão e vitalidade das cidades. A hipótese de Jane Jacobs é de que a segurança de uma rua será garantida pela presença constante e vigilante de pessoas que vivem e trabalham ali, e um fluxo constante de pessoas observando a rua cria um ambiente seguro e acolhedor.
Quando a rua tem um movimento constante e visibilidade, essa comunidade desempenha o papel de "vigilantes informais", e são os "olhos" que observam o que acontece, desencorajando atividades criminosas. Mas, para que os "olhos da rua" sejam realmente eficazes, é essencial que a rua tenha uma mistura diversificada de usos, como lojas, residências, e espaços públicos. Isso garante que haja pessoas na rua em diferentes momentos do dia e da noite.
Com uma boa densidade, o conjunto das pessoas que ali vivem e trabalham evolui para a formação de uma comunidade coesa, onde todos se sentem responsáveis pela segurança e bem-estar do espaço público.
Mas nada disso parece funcionar se os edifícios não têm fachadas ativas, com usos no pavimento térreo, diretamente no alinhamento do passeio, sem afastamentos, sem grades e sem muros, e com muitas janelas e portas voltadas para a rua (e é por isso que superquadras com parques infantis como os dos conjuntos habitacionais de Nova York e Brasília tendem a ser inseguras para crianças, exceto se com policiamento constante).
Não apenas há espaço para usos tão diversos quanto mercados, livrarias, restaurantes, cafeterias, lavanderias, escritórios e consultórios, floriculturas, joalherias e qualquer outra atividade de comércio e serviços, como isso é, na verdade, desejável, garantindo diversidade de trabalhadores, de frequentadores e de horários de funcionamento.
E é aí que começam os problemas quando as nossas cidades pretendem adaptar o conceito dos "olhos da rua" e da "fachada ativa" no Brasil. O problema, no caso, são dois: um de entendimento e outro de prioridade.
O primeiro problema, de entendimento, parece prosaico - e é - mas provoca uma distorção de tal ordem que leva a um regramento que, ao invés de incentivar, acaba por desestimular a criação de fachadas ativas nos novos empreendimentos.
Para Jane Jacobs, em seu conceito original, os "olhos da rua" não são, necessária e exclusivamente, pessoas olhando - e tomando conta - pelas janelas (até porque nem toda atividade comercial ou de serviços funciona devassada e exposta para o passeio por extensas vidraças), mas o volume de gente se movimentando, entrando, saindo, circulando e transitando constantemente e em diversos horários pelo quarteirão.
Na legislação de Belo Horizonte (e talvez nas de São Paulo e Curitiba), a fachada ativa pressupõe a maior parte envidraçada, com altura e percentual obrigatório e pré-determinado, como se fosse uma vitrine e a segurança viesse dos trabalhadores olhando para fora e prestando atenção à rua. São regras demais e restrições em excesso, que tornam as soluções pouco inventivas e pouco adaptáveis aos diferentes locais.
Saímos de um conceito de vitalidade e segurança baseado na alta frequência de transeuntes para um modelo de segurança baseado em aquários, onde o peixinho de dentro cuida do peixinho de fora, e o de fora deve poder ver o peixinho de dentro trabalhando a todo o momento (brises não são bem vistos, e a permissão para uso de cortinas ainda uma incógnita).
O segundo problema é de prioridade. Explico: se o município exige afastamento frontal com permeabilidade sobre terreno natural, as fachadas ativas estarão sempre afastadas do passeio por um mínimo de 3 ou 4 metros, ou por até 6, 8 ou 10 metros, quando em terrenos menores e mais estreitos.
Não precisa ser especialista para entender que uma loja distante 6 ou 8 metros do passeio e com um gramado entre o transeunte e a loja, não tem a menor viabilidade nem interesse comercial.
O fato é que a regra que exige afastamento frontal com permeabilidade sobre terreno natural (ou afastamento frontal de qualquer natureza) é incompatível com o interesse em incentivar fachadas ativas, e de colher os benefícios da segurança, da vitalidade e do senso de comunidade.
Ou é um, ou é outro, ou apenas os grandes empreendimentos poderão criar fachadas ativas com algum interesse comercial. O problema, quando se verifica que as fachadas ativas estarão predominantemente nos grandes empreendimentos, é que as fachadas ativas que mais produzem benefícios e senso de comunidade são as pequenas lojas, com baixos valores de aluguel e que viabilizam o comércio de bairro.
Deixo aqui 5 perguntinhas aos nossos gestores municipais e vereadores:
- Qual é a cidade que queremos?
- Qual é a prioridade (fachada ativa ou afastamento e permeabilidade)?
- Queremos mesmo as fachadas ativas em todas as suas possibilidades e configurações?
- Apenas os grandes incorporadores poderão fazer as fachadas ativas?
- Como ficam os pequenos comércios de bairro?
E termino com uma dica: leiam Jane Jacobs. Leiam "Morte e Vida de Grandes Cidades".