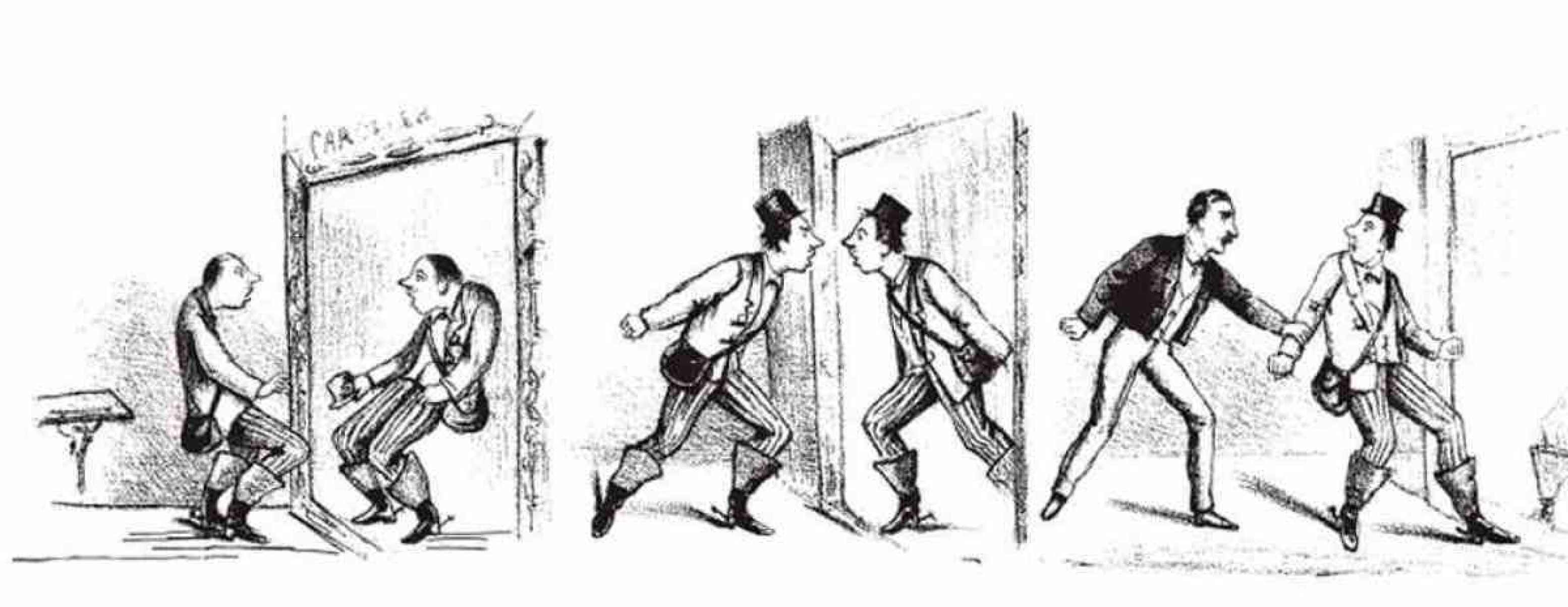"Retrato de família", datado de 1910 e feito por Chichico Alkmim, que se estabeleceu como fotógrafo em Diamantina em 1912 e montou estúdio na cidade mineira em 1919
O brasileiro não sabe, mas é míope cultural. Quem diz é a historiadora e antropóloga Lilia Moritz Schwarcz. O termo, ela explica, não desqualifica a bagagem cultural do indivíduo, mas traduz o desconhecimento que existe a respeito do contexto e das sutilezas de obras de arte produzidas no país desde o período colonial, sobretudo quando há representação de povos que não são brancos.
“Imagens da branquitude – A presença da ausência”, livro que a historiadora lançou recentemente pela Companhia das Letras se apresenta como uma lente de correção a essa miopia.
Em 357 páginas (desconsiderando os agradecimentos, notas, referências bibliográficas, índice remissivo, etc) a publicação introduz ao leitor o conceito de branquitude, um “fenômeno histórico vivido, subjetiva e internamente, de maneira mais ou menos consciente, pelo grupo social que é assim externamente definido”.
Schwarcz faz análises de imagens (pinturas e fotografias artísticas ou publicitárias), seguindo uma linha temporal que se inicia no período colonial, passa pelo reinado e termina na República, especificamente em uma peça publicitária de 2022. Nessa análise, mostra como foi construído, pela imagem, um ideário no qual os brancos detêm o poder.
Sistema de privilégios
“Branquitude corresponde a um sistema internalizado de privilégios materiais e simbólicos que se ancora no passado mas exerce suas prerrogativas no presente”, escreve a autora na apresentação do livro. “É uma frase de três linhas apenas, mas me custaram uma vida para elaborar”, diz ela ao Estado de Minas.
“Eu queria mostrar, primeiro, que não uso branquitude como categoria de acusação. Segundo, eu queria mostrar logo de início o meu lugar de fala. Sou uma mulher branca e privilegiada, nunca neguei isso. E, terceiro, queria entrar com a questão do poder político. A branquitude não é só uma questão simbólica, ela gera prebendas materiais”.
A branquitude, explica a historiadora, aparece de maneira muito sutil e simbólica na arte. A ideia de superioridade do branco é um discurso que se fez – e ainda se faz – presente pela ausência. Nunca existiu no Brasil reivindicação dos brancos pela sua raça. O que fizeram foi, em toda oportunidade que tiveram, retratar o branco numa posição superior às outras etnias, independentemente do contexto.
A tela “O filho do artista tomando banho na varanda da residência de seu avô, Grandjean de Montigny” (1830), de Arnaud Julien Pallière, ilustra essa situação. Conforme Lilia analisa, Arnaud retrata o banho de seu filho bebê, Jean Leon Pallière, realizado na varanda, local onde senhores de escravizados e negros se “misturavam”. No centro, o bebê está no colo da mãe, cobrindo o seio dela com a parte branca do vestido. É um indicativo de que a mulher é pura e recatada.
No entorno da mãe com o bebê, estão três serviçais negros, quase sem expressão. Os que não estão ajoelhados diante da senhora estão em plano inferior, com os corpos em posição de respeito. Qualquer semelhança da mulher e do bebê com representações de Nossa Senhora com o Menino Jesus não é coincidência, garante a autora.
É como se o pintor fizesse valer, de modo literal, a frase “dito pelo não dito”. Conforme mostra a historiadora, o recado subliminar que a tela passa não é fruto de ingenuidade do artista. A inferiorização de outros povos era estratégia comum utilizada pelos brancos no intuito de garantir sua manutenção no poder.
A pintura de Arnaud não é caso isolado. No período colonial, o alvo principal eram os povos indígenas. Por séculos, eles foram retratados como canibais, violentos e animalizados em telas de artistas que faziam questão de compará-los aos brancos europeus, estes, sim, civilizados. E é interessante observar que em telas do mesmo período que retratam acontecimentos violentos entre os europeus, não se apresenta o europeu como alguém exótico.
Negros, indígenas e orientais, por sua vez, são sempre exotizados. “A Ásia é um exótico-civilizado nas pinturas dessa época”, diz Schwarcz. “Isso porque foi lá que Jesus Cristo nasceu, o que torna o local o berço do cristianismo, que na época era muito latente”.
Além disso, o forte comércio da Europa com países da Ásia também pode ter influenciado tal “respeito” para com os asiáticos. Afinal, desde o século 17, austríacos, britânicos, dinamarqueses, franceses, holandeses e portugueses mantinham relações comerciais na Ásia Oriental, formando o que conhecemos hoje como Companhia das Índias Orientais.
Com o passar dos anos, a ideia de branquitude entrou na publicidade. Mais escancarado no início do século 20, o racismo era utilizado como estratégia em diferentes campanhas. Sabonetes, por exemplo, usavam a imagens de negros associando-os à sujeira e de pessoas brancas associando-as à limpeza. Tal ideia vem persistindo até hoje, mas de modo mais velado.
Uma campanha de uma gigante de cosméticos inseriu na peça publicitária uma mulher negra para dizer que se tratava de uma pessoa antes de utilizar os produtos da tal marca. Na sequência, apresentava uma mulher branca, dizendo que era a pessoa logo depois de usar o produto. Essa peça foi divulgada em 2017.
Imagens têm também poder ilusório de magia, afirma a escritora, “mas elas têm também isso que os adolescentes chamam de ‘papo reto’. A pessoa pode até discordar do que eu estou falando, mas a imagem está lá (para comprovar)”.
“IMAGENS DA BRANQUITUDE – A PRESENÇA DA AUSÊNCIA”
• Autor: Lilia Moritz Schwarcz
• Companhia das Letras (432 págs.)
• R$ 99,90