
Michel Laub, nascido em Porto Alegre, radicado em São Paulo, autor de "Passeio com o gigante"
Como a ficção pode espelhar o impacto dos fatos ocorridos no Brasil nos últimos anos? Michel Laub encontrou caminho próprio nos romances recentes. Depois de “Solução de dois estados”, o autor gaúcho volta a mostrar os traumas e impasses trazidos pela política na sociedade brasileira. Desta vez, em “Passeio com o gigante” (Companhia das Letras), a partir do advogado judeu Davi Rieseman que, anos depois de discurso para um auditório lotado, é confrontado por um coro de vozes dispostas a dizer verdades incômodas diante da perda pessoal irreversível sofrida pelo protagonista. Pandemia, bolsonarismo e sionismo, então, se misturam em um duríssimo acerto de contas – e de culpas – numa estrutura narrativa ousada e inventiva.
“‘Passeio com o gigante’ flagra um momento em que alguém sofre as consequências daquilo que fez em termos políticos (que são sempre, em alguma medida, termos pessoais). Daí a ideia de um judeu bolsonarista arrependido, ou em vias de se arrepender. Não sei se isso ainda é possível na vida real. Na literatura, é”, conta o autor, em entrevista ao Estado de Minas.
Nascido em Porto Alegre em 1973, Michel Laub morou em dois bairros da capital gaúcha, Bela Vista e Rio Branco, antes de se mudar para São Paulo em 1997 e iniciar bem-sucedida trajetória como jornalista (revista Bravo, Instituto Moreira Salles, Valor Econômico) e escritor (lançou oito romances até agora, todos pela Companhia das Letras, publicados em doze idiomas). Na entrevista a respeito do novo livro, ele também comentou as enchentes que assolam o seu estado e a onda de desinformação registrada nas últimas semanas.
Como nasce “Passeio com o gigante”? O que ele traz dos livros anteriores e de sua percepção atual do país?
Ele nasce do espanto que tive lá em 2018, quando vi parte da comunidade judaica aderindo a um movimento de extrema direita. Nessa época eu estava escrevendo o “Solução de dois estados”, que fala da divisão política brasileira, mas não sob esse aspecto específico. Talvez até pelo meu envolvimento no tema, como judeu, o “Passeio” acabou tendo uma abordagem diferente. O “Solução” é sobre intransigência, personagens que não estão dispostos a mudar de posição. O “Gigante” flagra um momento em que alguém sofre as consequências daquilo que fez em termos políticos (que são sempre, em alguma medida, termos pessoais). Daí a ideia de um judeu bolsonarista arrependido, ou em vias de se arrepender. Não sei se isso ainda é possível na vida real. Na literatura é, e isso é a riqueza e o poder dela.
Poderia falar como construiu a estrutura narrativa do novo livro?
Comecei a escrever no fim de 2020, em plena quarentena e governo Bolsonaro. Naquela época, a sensação que tínhamos era paradoxal: a de um tempo que não andava, e ao mesmo tempo era preenchido por um bombardeio de informação (nas redes, que são virtuais, mas também reais porque influenciam muito nossa vida). Essa ideia eu quis reproduzir no livro, que é como um sonho que acaba voltando ao ponto de partida. Há muita repetição, muita mistura de tempos (o passado que não passa etc). Em termos formais, diferenciar esses tempos dentro do livro, assim como os narradores, foi o desafio da escrita.
Os dilemas e contradições de Israel e do Brasil já aparecem em seu romance anterior, “Solução de dois estados”. Como surgem agora em “Passeio com o gigante”?
Na verdade, não aparecem no anterior, se não pelo título, que é uma ironia – a ideia da solução que não é solução, porque nunca ocorreu na prática histórica. Naquele caso, transferi essa ideia de impasse para o Brasil. No “Passeio”, sim, Israel está nomeado o tempo inteiro – mas vejo essa presença mais como um filtro do personagem, quase um pretexto para ele agir no Brasil em nome dessa ideia meio abstrata que tem de Israel. Nesse sentido, é mais um livro sobre o nosso país do que sobre particularidades do conflito no Oriente Médio. E um livro sobre cultura judaica de um modo mais amplo, quase que uma homenagem à parte dessa cultura (que modernamente nasce na dureza da diáspora) fundada na dúvida, na especulação intelectual que rejeita o triunfalismo militarista.
“A política se espalha pela imprensa e pelos celulares.” A política (ou o efeito da política nos cidadãos) também se espalhou na sua literatura com maior intensidade nos últimos romances ou ela já estava lá nos primeiros livros?
Meu primeiro romance, “Música anterior”, é sobre um juiz que condena um réu sem provas suficientes para isso, então há uma dimensão política ali, como nos livros posteriores de algum modo. Mas sim, concordo que a partir do “Diário da queda” (2011) isso ficou mais claro, acho que também porque fui ficando mais velho e o material autobiográfico (mesmo reinventado pela ficção) foi se esgotando. O mundo é mais interessante que o meu próprio umbigo. Meus livros mais recentes têm mais invenção que os primeiros, e também um caráter ensaístico misturado à ficção – algo que só a técnica de anos me permitiu fazer com alguma segurança.
“Você caiu nessa armadilha tantas vezes, achar que dizia a sua verdade quando estava dizendo a verdade dos outros.” Esse trecho pode ser lido também como uma alusão ao efeito manada provocado pelas redes sociais?
Um pouco sim, e um pouco num sentido mais existencial, que também é efeito da idade: a constatação, às vezes meio melancólica, que nosso pensamento individual não é tão original quanto tendemos a achar quando somos mais jovens. As matrizes do pensamento político não são tantas assim. No geral, nós as adaptamos ao que nos parece adequado pela experiência – no caso do livro, o protagonista adapta aquilo tudo ao próprio interesse, até em termos de carreira.
Em determinado momento do livro, o protagonista é aconselhado a ouvir os mortos. Em meio à cacofonia de discursos dos ‘vivos’, esse pode ser um caminho para enfrentamento de traumas?
Nesse caso, dá para trocar os mortos pela história – ouvir a voz da história. Essa deve ser a lição mais velha que existe, e a que há mais tempo é ignorada pela humanidade. Os horrores se repetem, e o “Passeio” também é um pouco sobre isso quando fala da pandemia, da intolerância política.
O que mais o impressionou em relação ao que vem ocorrendo em seu estado nas últimas semanas? E o que mais o incomodou?
Como todo mundo, fiquei chocado com o efeito físico e humano da tragédia. Não há muito o que falar a respeito, isso demorará muito para ser elaborado e (tomara) superado. Me impressionou a solidariedade. O que me incomodou foi o descaso dos governantes com os avisos de que isso poderia acontecer, e aí não tem como não apontar culpados por ação e omissão, e a tentativa da extrema direita de fazer demagogia em cima da tragédia (quando é ela que concentra o negacionismo climático no mundo).
“Tudo se repete, Davi, mas pode haver coisas novas na repetição.” Acredita que a forma que o país está lidando com as calamidades climáticas de 2024 repete comportamentos observados na pandemia e nas eleições?
Sim. Tristemente parece uma reprise. E a luta depois que a água baixar no Rio Grande do Sul será para que não se repita o esquecimento que ocorreu depois da pandemia.
“Regulamentar a picaretagem nas redes também é política ambiental”, você escreveu em seu perfil em uma das redes. Poderia explicar melhor essa ideia?
As redes sociais são a plataforma por excelência dos discursos mais nocivos à democracia e ao planeta – entre eles, o discurso negacionista, que na verdade é uma aposta orquestrada no caos onde floresce a extrema direita. Achar que isso é liberdade de expressão é não entender nem o conceito e nem o que ocorreu com o mundo na última década. As televisões e rádios sempre foram concessões públicas, porque concentravam o espaço do debate público antes do surgimento da internet. Isso não era regulamentação?
Por que não se pode pensar em algo semelhante com as plataformas, que lucram com conteúdos produzidos pelos usuários e ganham mais engajamento quanto mais esses conteúdos forem controversos, e muitas vezes mentirosos, nocivos? Há muitas questões aí que se chocam com a suposta pureza do direito de expressão: propriedade intelectual, impostos, responsabilidade civil. Existia democracia antes dos algoritmos, por exemplo, e não vejo como ela possa ser ameaçada se houver leis que obriguem as plataformas a explicar como esses mecanismos operam – a sociedade precisa saber disso, decidir se quer continuar sendo submetida a isso e pagar um preço que tem sido alto demais.
Trecho
(de “Passeio com o gigante”,de Michel Laub)
“O som era gutural. Davi voltou à cena muitas vezes, ele já tinha visto gente chamando os mortos de fracos, de mentirosos, e promovendo festas e passeatas, e gargalhando ao lado dos assassinos enquanto o céu queimava em fogos de artifício, mas foi ali que as perguntas mudaram de forma. Davi se perguntava, quem são essas pessoas afinal? Quem sou eu quando me olho no espelho depois de ver o que essas pessoas fizeram?
É possível refazer as perguntas nos termos do discurso de dois mil e dezoito. Por exemplo, quando pensamos na tragédia e na comédia, nas piadas em cima do sofrimento nosso e dos outros. Qual a diferença entre rir de alguém sem ar e ser responsável por alguém que fica sem ar? Entre dar dinheiro a alguém que ri de alguém sem ar e ser responsável por todos que ficaram sem ar?”
capa do livro "Passeio com o gigante"
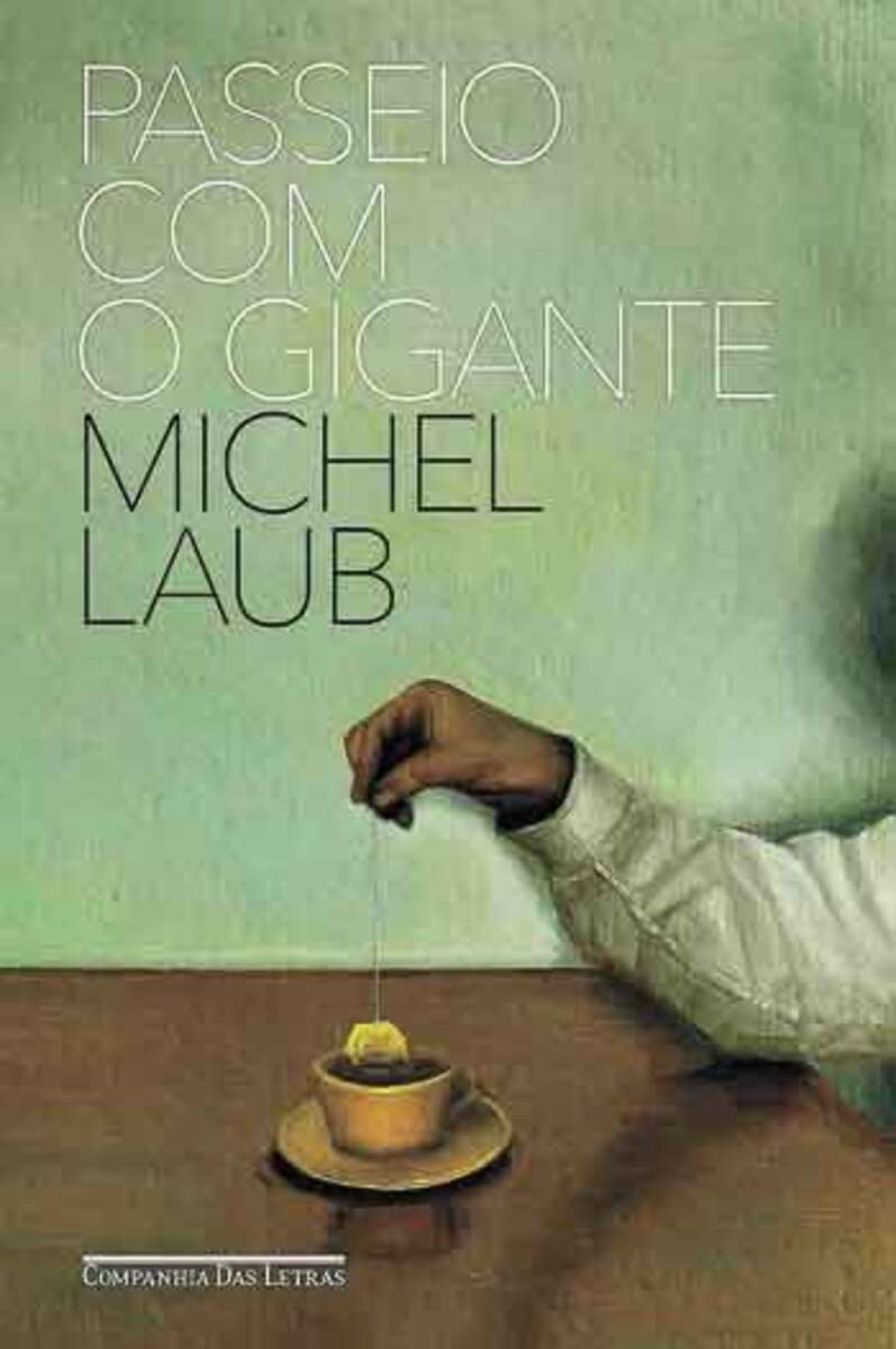
“Passeio com o gigante”
• De Michel Laub
• Companhia das Letras
• 160 páginas
• R$ 69,90


