
Igiaba Scego redesenha mapas afetivos em 'Cassandra em Mogadício'
Em livro autobiográfico, italiana narra traumas e descobertas da família somali em Roma
Mais lidas
compartilhe
Siga no
Stefania Chiarelli
Especial para o EM
O italiano, a língua daqueles que colonizaram nossos antepassados tanto em Barawa como em Mogadício, uma língua que já foi inimiga, escravocrata, mas agora tornou-se, para uma geração que vai desde minha mãe até mim, a língua dos nossos afetos. A língua dos nossos segredos mais íntimos. A língua que nos completa, não obstante suas contradições.
A língua de Dante, Petrarca, Boccaccio, Elsa Morantee Dacia Maraini. A língua de Pap Khouma, Amir Issaa,Leila El Houssi, Takoua Ben Mohamed e Djarah Kan. Língua singular no passado, e agora plural. Língua mediterrânea, língua de encruzilhadas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia
Em um pequeno apartamento na zona leste de Roma, uma escritora endereça cartas à sobrinha Soraya, no Quebec canadense. Ela tem cinquenta anos; a jovem, vinte. O diálogo intergeracional estrutura essa obra autobiográfica que irradia para outras geografias do afeto e do espaço: Itália, Somália, um pai, uma mãe, uma sobrinha.

17/08/2024 - 04:00 Igiaba Scego: 'sou uma pessoa de encruzilhadas' 
17/08/2024 - 04:00 Kalaf Epalanga: 'O mundo é o fruto das migrações' 
17/08/2024 - 04:00 Sara Mesa expõe feridas do cotidiano em 'A família'
São eles os protagonistas de “Cassandra em Mogadício”, que recupera partes da trajetória de uma família que o tempo, as guerras e os deslocamentos esmigalharam. Igiaba Scego, nascida em Roma em 1974, filha de mãe
e pai somalis, recolhe amorosamente essas migalhas e conta como ésentir na pele o desenraizamento. A pele – sempre ela – a indicar a complexa equação entre pertencimento e deslocamento. Salvar a pele, julgar a pele, descamar a pele. No meio de tudo isso, a pele de uma cidade, a Mogadício familiar da narradora.
Em “Minha casa é onde estou” (2010), a autora já trazia para o centro da narrativa personagens migrantes e sujeitos diaspóricos, exercitando a escrita de si como forma de abraçar outras subjetividades.
No Brasil, seu ensaio “Viajantes” (2019) examina a desigualdade de condições dos deslocamentos no mundo contemporâneo a partir da partida do pai para Roma nos anos 1970: “Viajar não é fácil se você não nasceu no país certo (...) Se não tiver o passaporte certo, a vida acaba na fronteira”.

Igiaba Scego faz do autobiográfico "Cassandra em Mogadício" uma viagem pelas geografias do afeto e pelos traumas do exílio
A autora redesenha mapas afetivos e crava para sempre em nosso imaginário uma Roma negra, em que personagens carregados de referências culturais múltiplas cruzam esquinas, frequentam praças, escolas e estádios, embarcam em estações de trem e participam de passeatas. Em geral, carregam um corpo negro que destoa do cenário.
“Eu buscava melanina para me fazer companhia”, afirma a narradora de “Cassandra em Mogadício”, ao lembrar a própria adolescência nos anos 1990 na capital italiana, quando sofre a ausência de dois anos da mãe, que volta para a Somália em plena guerra civil.
A escrita realiza um duplo diálogo, aquele com as raízes maternas e paternas e também com toda uma vertente literária, a começar pelo título alusivo à personagem da mitologia grega, vinculando-se a uma tradição mais longínqua e forjando um parentesco simbólico com a sacerdotisa Cassandra. Troia, Roma e Mogadício formam uma triangulação muito particular, já que a protagonista-narradora se vê como a figura trágica que vaticina os infortúnios de seu povo, mas ninguém escuta.
Nessa carta “mil vezes começada, mil vezes rasgada” a Cassandra de Scego enxerga Mogadício como Troia ensanguentada, duas cidades feitas de “pedra, risos e gritos”. Aproximados por esse olhar, tais espaços dão lugar a uma reflexão contundente sobre aqueles cujo destino condenou ao deslocamento, mas também a uma capacidade de ver os que os demais não enxergam.
Portadora de uma doença degenerativa nos olhos, nossa Cassandra contemporânea enxerga belezas que nos escapam, estabelecendo analogias relativas a esse modo específico de ver o mundo, como quando refere os olhos da mãe Chadigia, que pareciam “a elipse da Piazza Navona, que para mim é a praça mais linda de Roma”.
Essa bambina romana redefine também nosso modo de ver lugares e gentes: em todos esses momentos, a leitura da prosa de Scego é uma experiência de grande prazer. Mas o texto vai além. Roma é um lugar de cruzamentos culturais, e a língua, espaço de encontro e disputa.
“Cassandra em Mogadício ”surge salpicado de palavras em somali, possibilitando (mesmo para nós, que o lemos na bela tradução de Francesca Cricelli) somalizar o italiano, tornando-o mais poroso a modos de percepção e expressão característicos dessa outra cultura.
A palavra na ponta da língua, o sotaque, a pronúncia, tópicos tão caros aos sujeitos deslocados, configuram um eixo central da narrativa, que discute a tensão presente entre a oralidade (herança da mãe somali, transmissora das histórias de seu povo nômade) e o mundo letrado ao qual pertence a narradora, “afro-euro-politana”, europeia de carne africana.
É sempre admirável a capacidade da autora de representar a experiência do entre, situando seus escritos no lugar da encruzilhada – palavra que surge a cada tanto em suas páginas. Não à toa, se coloca como escriba, alguém que busca traduzir mundos e histórias ainda não escritas. Da crítica cultural à geopolítica, da literatura ao jornalismo, do ficcional ao biográfico, Scego tensiona limites, aproximando e fazendo interagir instâncias que adentram sua prosa de forma orgânica.

‘Icarus’, mural da artista Judith de Leeuw, em conjunto residencial dos anos 1970, em roma
Dessa forma, a Roma figurada irradia uma visão política da literatura, evocando a barbárie da ocupação italiana no sul da Somália e as nefastas consequências do colonialismo, espalhando o Djíro, palavra somali para designar a doença entranhada nas artérias familiares em sucessivas gerações.
O vocábulo se intromete com força na narrativa, irrompendo em meio a uma língua italiana “feita de alcatrão e de sangue”, como aquela que o avô traduzia nos anos 1930, servindo a um general italiano responsável por crimes de guerra contra a Etiópia.
Mas é também a língua a soar de forma doce e lamuriosa, quando falada anos depois pela mãe. O mesmo idioma, desse modo, adquire tonalidades e significados distintos, a depender de quem fala e, sobretudo, como fala. Mesmo aludindo ao trauma e ao que é rompido pelas guerras, as ditaduras e o racismo, Scego não abdica de dizer o amor – nesse contexto, trazer presente o afeto equivale a resistir às dores pela via do sensível: “Estamos aqui, meu amor, juntos. E somos íntegros”.
Recusando uma fala vitimizada, a autora destaca episódios de impacto, que surgem como núcleos significativos dessa memória ativa em busca de uma cura possível. Como a cena da criança preenchendo os formulários exigidos para residência dos estrangeiros na delegacia de renovação de vistos. A mãe, a quem fora negada a instrução formal em seu país de origem, lê de forma precária, necessitando auxílio.
Preencher, escrever, anotar, tudo importa na dinâmica da reminiscência: “Pareço um pouco um rabisco. Com certeza não reflito a imagem hollywoodiana de escritoras que criam suas obras numa bela casa que dá para uma baía diante do oceano, daquelas de tirar o fôlego, com um belo jovem na cama e um cigarro mantido plasticamente entre os dedos.
Não sou Colette, não sou Joan Didion. Sou um a artista preocupada com os boletos no fim do mês, que escreve nos recortes do tempo, entre um trabalho precário e outro, tomada por crises econômicas e geopolíticas, sempre com a ansiedade de não conseguir dar conta”.
A imagem autoral do rabisco é preciosa: longe de um desenho mal-acabado, trata-se do gesto de ensaiar, traçar de novo e de novo, à semelhança dos temas caros à Scego, que dão voltas e se dobram sobre si mesmos.
À semelhança do movimento espiralar da memória, teimam em retornar a algo já dito, persistindo na retomada, mesmo quando tudo à volta parece afirmar que não há nada a dizer. Nesse conto-mosaico, Cassandra sopra palavras duras: “A Somália não é um insulto”, insiste, à procura de um alfabeto possível nesse projeto pessoal e literário de enorme relevância.
Stefania Chiarelli é professora de literatura na Universidade Federal Fluminense (UFF) e coorganizadora do livro “Falando com Estranhos – O Estrangeiro e a Literatura Brasileira”
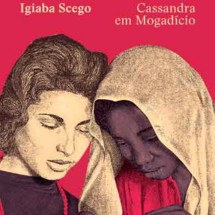
Capa do ivro "Cassandra em Mogadício"
“Cassandra em Mogadício”
• De Igiaba Scego
• Tradução de Francesca Cricelli
• Editora Nós
• 376 páginas.
• R$ 89,00 (impresso)
• R$ 62,30 (digital)
