
Igiaba Scego: 'sou uma pessoa de encruzilhadas'
Leia, a seguir, a entrevista de Igiaba ao Pensar, com perguntas formuladas também pela professora e crítica literária Stefania Chiarelli
compartilhe
Siga no
Filha de imigrantes que foram morar na Itália depois de um golpe de Estado na Somália, Igiaba Scego nasceu em Roma e tem doutorado em educação sobre questões pós-coloniais. O primeiro livro de memórias da escritora,“Minha casa é onde estou”, foi publicado no Brasil pela editora Nós, a mesma que lançou “Adua”, “Caminhando contra o vento” (ensaio-depoimento sobre Caetano Veloso) e, agora, “Cassandra em Mogadício”.
No Brasil para uma série de lançamentos do livro, a autora já esteve em Salvador, no Rio de Janeiro e será uma das atrações do II Festival Literário Internacional de Paracatu (Fliparacatu). No dia 29 deste mês, ela divide mesa no centro histórico da cidade mineira com Itamar Vieira Junior e Myriam Scotti.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia
Leia, a seguir, a entrevista de Igiaba ao Pensar, com perguntas formuladas também pela professora e crítica literária Stefania Chiarelli, autora da resenha de “Cassandra em Mogadício”, e respostas em português fluente (e adorável).

17/08/2024 - 04:00 Igiaba Scego redesenha mapas afetivos em 'Cassandra em Mogadício' 
17/08/2024 - 04:00 Kalaf Epalanga: 'O mundo é o fruto das migrações' 
17/08/2024 - 04:00 Sara Mesa expõe feridas do cotidiano em 'A família'
Poderia apresentar “Cassandra em Mogadício” aos leitores brasileiros?
É uma carta que escrevo à minha sobrinha, Soraya, sobre a história, basicamente, da minha mãe. Mas não só dela. É também a minha história, a do meu pai, de meus irmãos e de toda a minha família. É sobre o que significa viver com um trauma pós-guerra. A Somália viveu uma guerra civil de 30 anos que foi muito dura e deixou feridas no corpo da gente. Eu uso uma palavra em somali, ‘djiro’, que significa doença. Mas é uma doença maior, que mora com você, no meio da alma. Não vai sair e a gente tem de se acostumar. É uma depressão, um trauma. E o livro é uma cura do trauma. Há uma memória, uma história.
Em “Cassandra em Mogadício”, uma Cassandra negra interpreta o mundo a partir de uma perspectiva específica. Que chances tem de ser acolhida a profecia que sai de sua boca?
Eu acho que sim. Minha Cassandra vai ser acolhida porque é diferente da Cassandra de Homero, em que ninguém acreditava. É uma Cassandra que fala a uma sociedade moderna, que está vivendo muitas guerras. Acho que a gente agora entende quanto a guerra é ruim e eu acho que muita gente não somente vai ser Cassandra, mas vai escutar a Cassandra e vai acolhê-la.
Como o desenraizamento aparece em seus livros?
Eu acho que a gente não tem raiz porque não somos árvores, mas temos lugar de alma, uma casa interior, um diferente lugar do mundo. Pode ser a terra natal e pode também ser aonde a pessoa chegou. Penso que, no livro, tem um lugar de alma que é a Somália, que sofreu muito, mas está em nós. Essa terra, essa geografia moram no interior de nosso coração. Acho que a diáspora é assim: você mora em um país com a carne, mas mora também em outro país com a cabeça e o coração. Você vê isso na estrutura do livro. Os fragmentos são a diáspora. Porque ela está em todas as partes.
No centro do Rio de Janeiro, a igreja Nossa Senhora da Lampadosa foi fundada no século 18 por uma irmandade de escravizados brasileiros, em consequência de uma suposta aparição da Virgem Maria na ilha de Lampedusa. Esta articulação entre Itália, África e Brasil pode ilustrar a ideia de encruzilhada que você desenvolve nos seus escritos? A encruzilhada é um lugar teórico?
Eu não sabia dessa igreja de Lampedosa (no Rio). Tenho que vê-la. Eu acho que Itália e Brasil têm muitas conexões no passado e atualmente. Mais na música do que na história da escravidão. Muitos cantores da MPB foram para a Itália e muitos cantores italianos gostam da música brasileira. Essa encruzilhada é muito interessante. Sou uma pessoa de encruzilhadas. A minha família está em todo o mundo. Passado, presente e futuro estão na mesma linha para mim.
É possível pensar o questionamento dos significados da italianidade como um projeto literário dentro da sua obra?
A italianidade é algo muito grande para mim. Estou sempre pensando no que isso significa também para os italianos brancos, não somente para os italianos negros. Eu acho que é difícil a identidade nacional de cada um dos países do mundo porque a unificação dos países é sempre uma política de fronteiras. E na Itália tem muitas cidades com jeito de viver e sotaques diferentes: Nápoles, Florença, Roma. Acho que a Itália é uma mistura de diferentes, é o que gosto no meu país. Cada canto tem uma diferença e é assim acho que nós temos a possibilidade de estar todos juntos. Porque a diferença é riqueza. Por isso, penso na italianidade como uma mistura.
Em um mundo em que a defesa de valores assumidamente fascistas cresceu e se consolidou, o que pode a literatura?
O fascismo se consolidou, mas também o antifascismo. O posicionamento contra racismo, fascismo, transfobia, desigualdade aumentou. Quando eu era pequena não era assim. Ninguém falava de colonialismo, de racismo, de história negra. Agora isso é falado nas escolas italianas. Há uma força, sim, violenta dos fascistas. Mas a maioria da gente não é assim. É uma narrativa muito negativa falar somente do mal. Acho que nós podemos mudar o jeito do mundo.
É possível pensar o questionamento dos significados da italianidade como um projeto literário dentro da sua obra?
Estou tentando. Não é fácil fazer uma história dos negros italianos. Mas um dia quero escrever um livro mais histórico sobre isso, gostaria muito.
Por que a música brasileira é tão marcante para você? E o que mais a marcou em Salvador e o que espera ver em Paracatu?
A música brasileira é linda. Eu gosto muito. Vi o show de Caetano e Maria Bethânia. Eu gostei muito porque a música brasileira fala da gente, da história, da geografia, da ancestralidade. Isso não tem na música europeia. Eu sinto essa ancestralidade quando a gente canta aqui. Gosto muito e não sei explicar. É como o amor, é muito difícil de explicar. Em Salvador foi maravilhoso. Encontrei uma estátua de São Benedito, que é um santo italiano (Benedetto), filho de escravizados que agora é um símbolo também para os imigrantes de Palermo. Sou muçulmana, mas eu gosto muito dos santos. Salvador, então, é muita história. É o que espero encontrar também em Paracatu: muita história.
detalhe da arte da capa da edição brasileira de "cassandra em mogadício", lançamento da editora nós
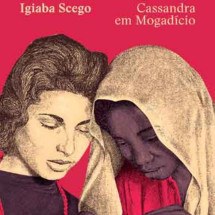
Trecho de “Cassandra em Mogadício”
de Igiaba Scego
(tradução de Francesca Cricelli)
Eu estou aqui, em Roma. Sou uma mulher made in Italy. Única âncora numa família sempre em movimento. Fixa no lugar em que nasci e cresci. Rotineira como todos os romanos. Imersa nesse Ocidente com o qual eu mesma, de vez em quando, brigo.
Mas você, ao contrário, amada sobrinha, vagou por um mundo feito de trilhas e florestas. E agora está no coração do Quebec canadense, fala francês como uma personagem de Xavier Dolan, anulando as vogais nasaladas de Paris, quase rebelando-se contra elas. Volta a falar um francês padrão só com sua mãe, Naima.
Sua roiô, Naima, é de Djibuti, ex-Somália francesa, hoje um lugar de disputa internacional e bases militares, de fuzileiros navais estadunidenses encapuzados, soldados da legião estrangeira e bases oblongas da República Popular Chinesa, e seu francês parece ter saído diretamente de uma música de Charles Trenet. O francês de sua mãe é puro beirando o paroxismo, e seus diálogos se encontram no meio do caminho, num ponto impreciso daquela França distante, aquele Hexagone no qual você ainda não esteve nesta vida, mas que deseja assim como se deseja oamor.
Também Naima, sua roiô, tem uma voz rouca, feito uma amazona, mais grave do que a sua, mais vivida. Émãe de quatro filhos e matrona de numerosas constelações. Há na voz dela o trabalhoso sofrimento do parto e a esperança que cultiva quanto ao futuro de todos vocês. Nem sempre entendo quando ela fala em somali. Usa palavras que jamais ouvi. E depois há o sotaque, meu Deus: parece um tanque de guerra. Apesar da dureza do som, sempre gostei do ritmo que consegue dar às frases quando fala a língua da intimidade dela. Sua mãe dança. Nas pontas dos pés, como uma étoile. Sacudindo os seios grandes. E balançando a cabeça como uma garotinha cheia de vontades.
Com seu pai, seu âbo, ao contrário, você fala em inglês. Durante sua volta pelo mundo, a Inglaterra sempre foi uma parada importante. Talvez você tenha pensado em se mudar para o país de sua majestade, mas depois a vida, certamente, levou-a para outro canto. E a partir dessas 12 permanências, não sei quantas, talvez uma só, acabou adquirindo um sotaque da alta sociedade britânica, quase como se tivesse saído do colégio Eton. Mas, como o do ator Benedict Cumberbatch, seu inglês também se enriqueceu estrada afora com notas de pura loucura, e é nesta loucura que todas as vezes se encontra com seu pai Moh. Ele tem aquela pronúncia perfeita, um sotaque estadunidense bem carregado, um pouco como Will Smith, adquirido com os filmes e com amigos que frequentou na juventude, um sotaque que cheira a corpos, luas, planetas, flertes e mal-entendidos. E é nesse inglês que vocês dois sempre dão gargalhadas adoidado.
Em seu fluxo, porém, e isto ocorre especialmente quando fala com seu âbo, emerge de forma inesperada o somali. Não é um somali da região de Banaadir o que falamos em família, não é tão pouco o somali do norte, mais fechado, duro, que sua mãe falava em Djibuti na juventude. Seu somali, Soraya, tem cheiro de casa, fraldas, primeiros passos, primeiro dentinho. Um somali quase recém-nascido, doce e macio como uma Sachertorte recheada de nuvens e açúcar. É um somali de criança, misturadode forma casual ao seu sotaque britânico da alta sociedade, desabrocha em sua boca de jovem adulta quando conversa pelo Messenger com seu pai. E todas as vezes ouço-o com espanto. Encanta-me ouvi-la falar, Soraya. E me faz sentir viva.
